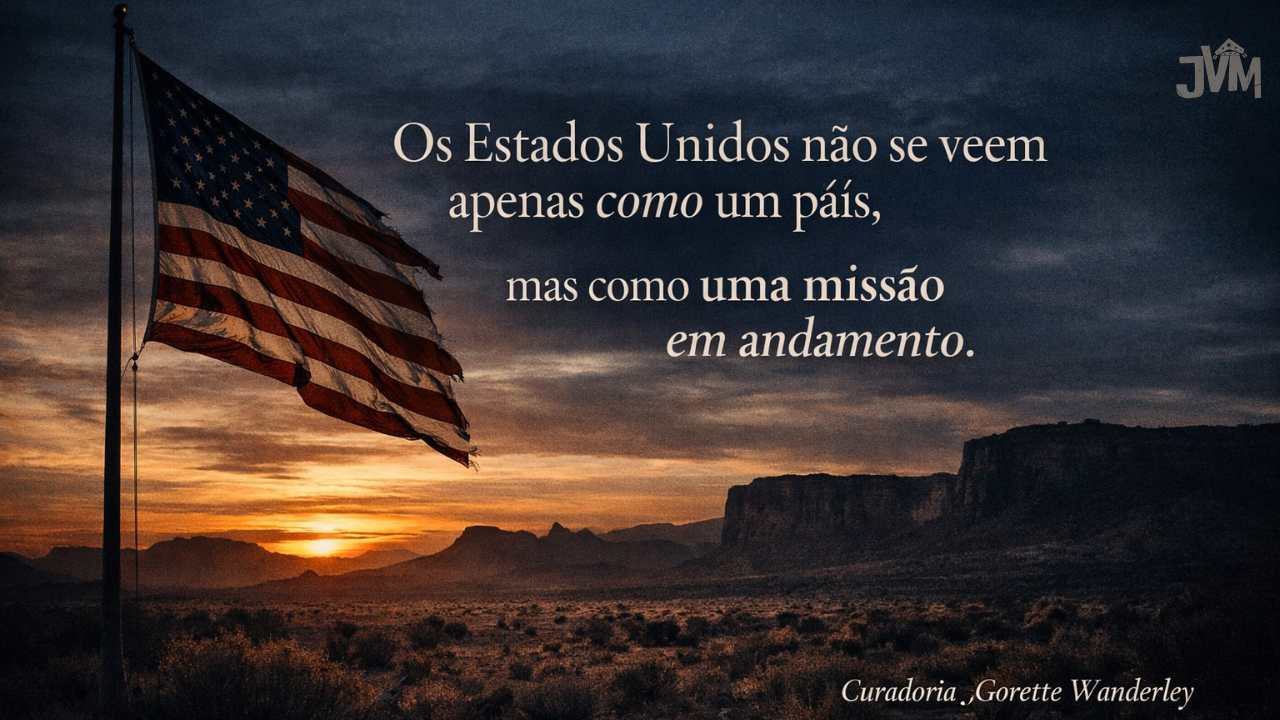
Por: Antônio Henrique Couras;
Quem acompanha as notícias dos Estados Unidos mesmo que só de relance, daquele jeito “en passant”, provavelmente percebeu que algo mudou de tom nos últimos meses. Não é apenas polarização política, nem apenas eleições, nem apenas protestos. O país parece ter entrado numa fase de tensão constante em que imigração virou assunto de guerra, fronteira virou campo de batalha simbólico e agentes federais voltaram a aparecer como protagonistas de uma narrativa quase cinematográfica. O nome que surge nesse contexto é um que muita gente fora dos EUA ouve sem entender direito o que significa: ICE.
O ICE, sigla para Immigration and Customs Enforcement, é uma agência federal responsável por fiscalização migratória e investigações relacionadas a imigração e crimes transnacionais. Na prática, é um órgão que atua com detenções, deportações e operações de controle migratório, e por isso sempre esteve envolto em controvérsias, especialmente desde o auge do discurso anti-imigração na política americana. O que está acontecendo agora, porém, não é apenas o ICE fazendo seu trabalho. O que chama atenção é que a agência vem se apresentando cada vez mais como uma força de combate.
A linguagem de recrutamento, a estética dos vídeos e o jeito como as operações são divulgadas lembram muito mais propaganda militar do que uma instituição civil. Não se vende um cargo burocrático, vende-se uma “missão”. Não se anuncia uma função administrativa, anuncia-se uma batalha. Isso atrai um tipo específico de candidato: o que não está buscando estabilidade, mas aventura; o que não quer ser funcionário público, mas protagonista.
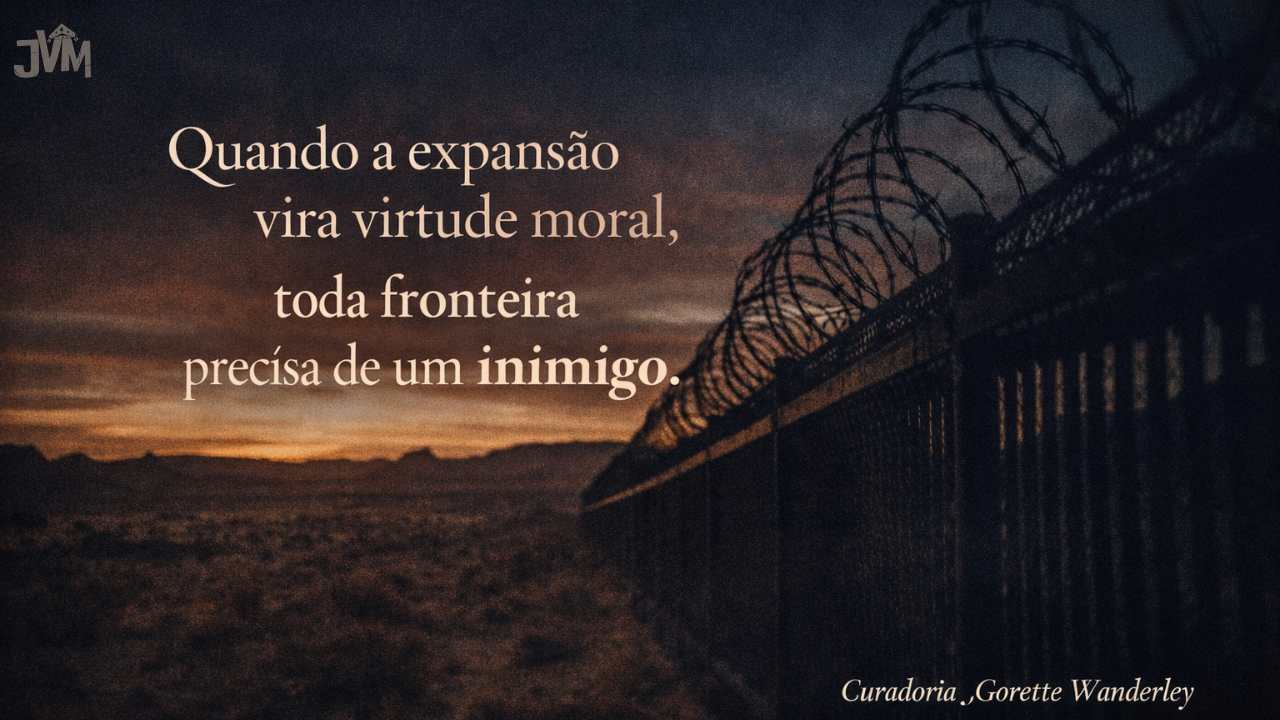
E é aí que a pergunta começa a ficar interessante. Por que isso funciona nos Estados Unidos? Por que existe um público tão grande e tão pronto para ser seduzido por essa estética de operação tática, patriotismo armado e “defesa do território”? A resposta não está só na política contemporânea. Ela está enterrada mais fundo, no imaginário cultural americano, como um fóssil que ainda respira.
Os Estados Unidos têm uma característica rara: eles não se veem apenas como um país. Eles se veem como uma narrativa. Um projeto moral. Uma história épica em andamento. E toda epopeia precisa de inimigos, de fronteiras, de perigos, de heróis. A cultura americana foi construída em torno da ideia de que o mundo é um lugar selvagem e que cabe ao americano “colocar ordem” nele, seja com coragem, seja com armas, seja com guerra.
É por isso que o país consegue sustentar uma contradição curiosa: o americano médio pode desprezar o governo e ao mesmo tempo venerar profundamente tudo que envolva uniforme, bandeira e força militar. Ele critica o Estado, mas adora a ideia da pátria. Ele não confia no Congresso, mas se emociona com soldados e helicópteros. Porque, na cabeça dele, “governo” é uma coisa passageira, falha e corrupta; “América”, por outro lado, é quase uma entidade sagrada.
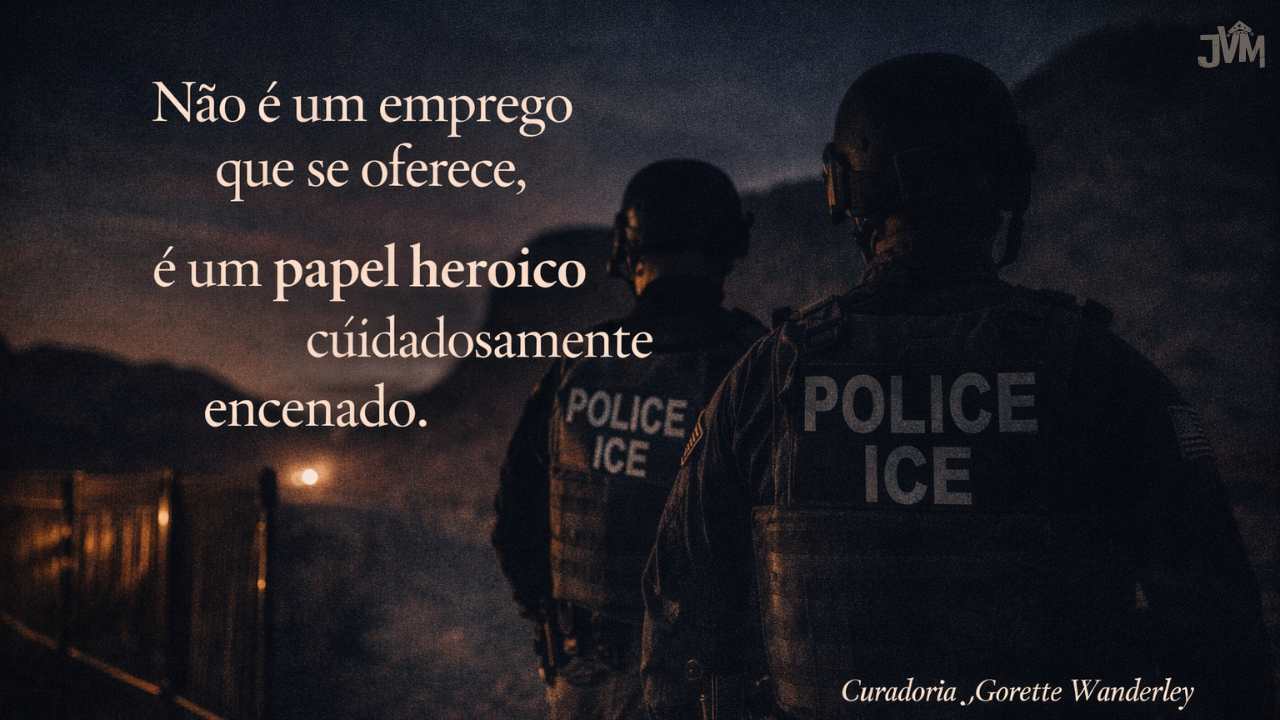
Esse tipo de mentalidade não nasceu do nada. Um dos pilares históricos dessa construção é a famosa ideia do Destino Manifesto, uma doutrina do século XIX que, em termos simples, dizia que os Estados Unidos tinham uma missão providencial, quase divina, de expandir sua civilização pelo continente. Não era apenas um argumento geopolítico; era um argumento moral e religioso.
Expandir era visto como direito, e mais do que isso, como dever. A conquista territorial, o avanço sobre o Oeste, a expulsão e o massacre de povos nativos, tudo isso foi embalado não como violência, mas como “progresso”. E essa lógica, mesmo quando perde o nome, nunca perde o espírito. O Destino Manifesto apenas troca de roupa. Ele vira “defender a democracia”, “proteger a liberdade”, “salvar o mundo livre”. A missão civilizatória se torna uma marca registrada do patriotismo americano, como se o país estivesse sempre em posição de xerife global, incumbido de decidir quem é o vilão e quem merece ser salvo.
Há ainda um ingrediente que costuma passar despercebido, mas que ajuda a explicar por que essa mentalidade americana parece tão naturalmente inclinada ao messianismo e à ideia de missão: a base religiosa protestante, especialmente na sua vertente moralista e evangelizadora, que mais tarde seria reciclada e radicalizada pelo evangelicalismo moderno e, em certos contextos, pelo neopentecostalismo. O protestantismo histórico nos EUA ajudou a consolidar a ideia de que o indivíduo tem uma relação direta com Deus e, portanto, carrega responsabilidade pessoal absoluta pelo seu destino e pela moral do mundo ao seu redor.
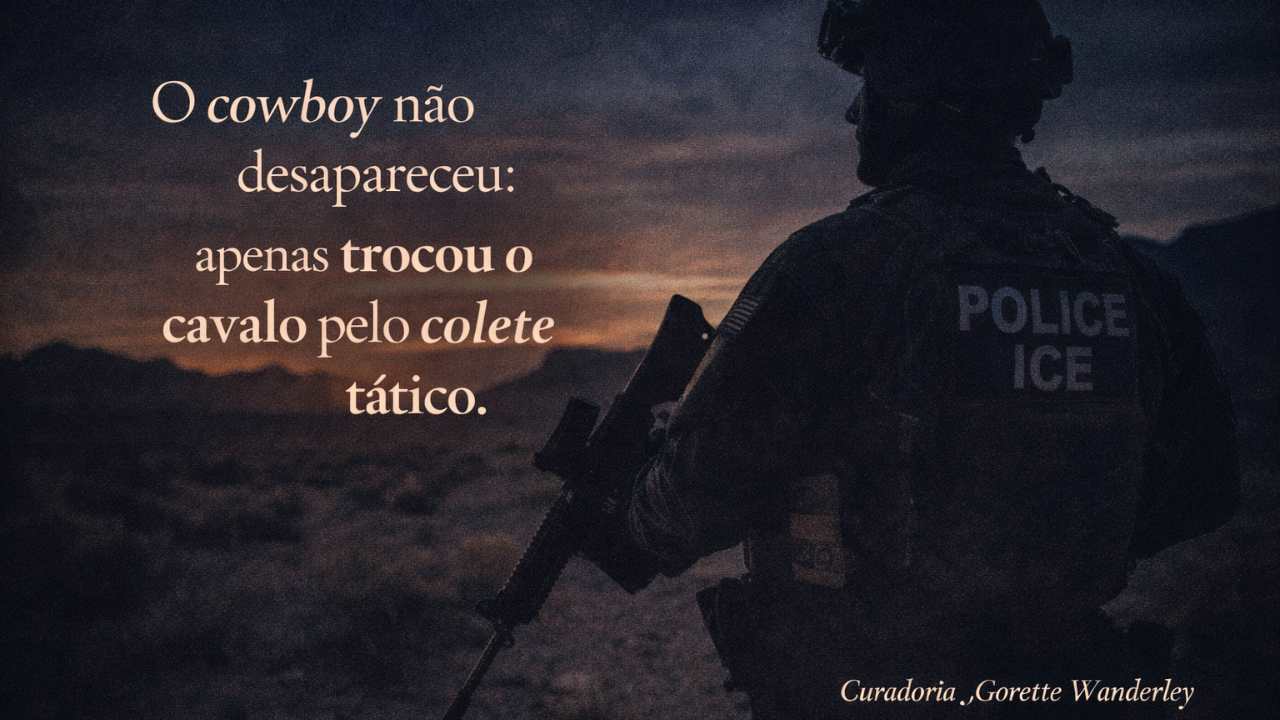
Isso cria um terreno perfeito para o surgimento do “homem escolhido”, do sujeito que se vê como instrumento do bem e que se sente autorizado a agir quando as instituições falham. Some-se a isso a lógica missionária, a obsessão em “salvar” e “converter”, e o resultado é um país que facilmente transforma política em cruzada, conflito em guerra espiritual e intervenção em dever moral. Nesse contexto, o Destino Manifesto não parece apenas uma ideologia imperial: ele se comporta como uma teologia secularizada, em que a nação se enxerga como povo eleito e o combate se torna quase uma virtude sagrada.
Esse pano de fundo também ajuda a entender uma característica muito marcante do imaginário americano: a miopia moral que faz o país enxergar o mundo numa dicotomia quase infantil de bem contra mal, mocinhos contra vilões, luz contra trevas. É como se a realidade internacional fosse um filme de super-herói onde basta identificar “o inimigo” e apertar o botão certo. A nuance, a ambiguidade, os interesses cruzados, as contradições históricas e as camadas sociais que explicam qualquer conflito real costumam ser tratadas como detalhes incômodos, quase como se fossem desculpas.
Para quem vem da América Latina, isso salta aos olhos, porque aqui a vida cotidiana já ensina cedo que o mundo não funciona em preto e branco: instituições podem ser opressoras e ao mesmo tempo necessárias; líderes podem ser carismáticos e ao mesmo tempo corruptos; a violência pode vir do Estado e também do crime; e muitas vezes o “bem” e o “mal” estão misturados na mesma pessoa, na mesma família, na mesma estrutura social. Mas parte do discurso americano parece incapaz de aceitar essa complexidade. Eles precisam de uma narrativa limpa, com heróis claros e ameaças claras, porque isso sustenta a fantasia nacional de missão e protagonismo. E quando a realidade não oferece vilões perfeitos, a cultura americana frequentemente os inventa, simplifica ou exagera, porque, afinal de contas, o que deixa a novela boa sempre é a vilã.
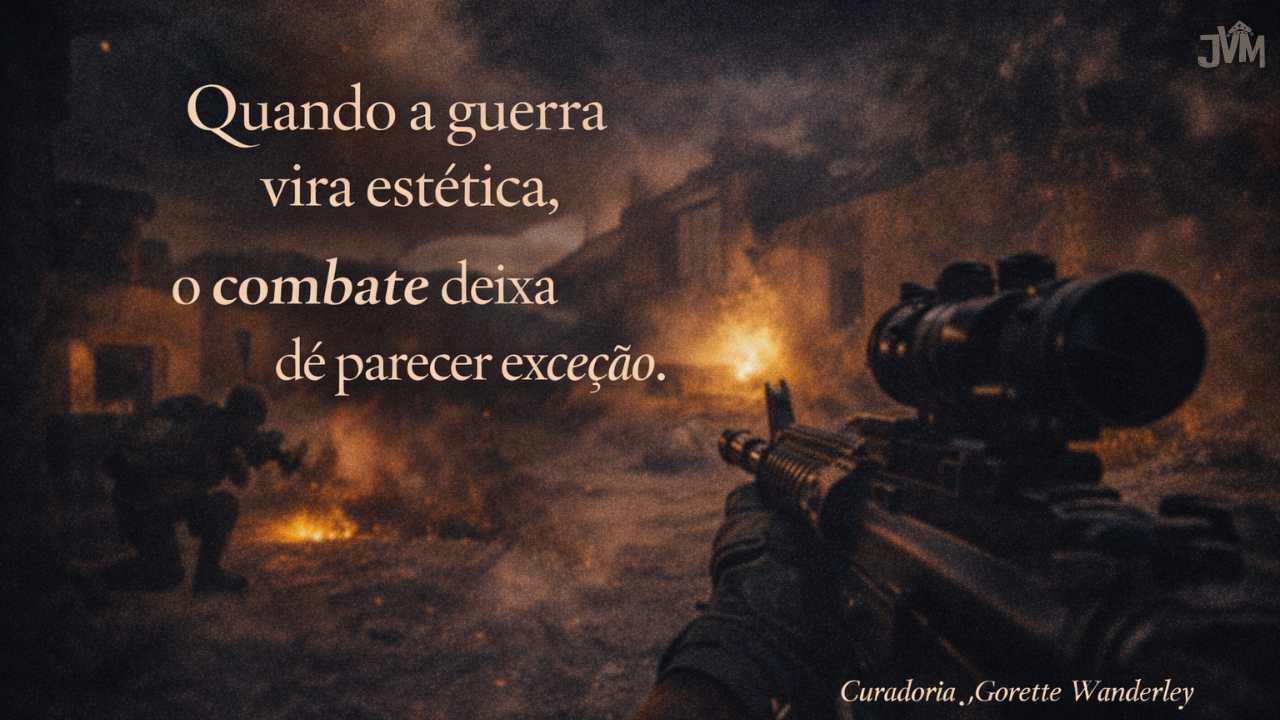 Mas antes mesmo do soldado, antes mesmo do agente federal, o grande personagem fundador do imaginário americano foi o cowboy. O cowboy não é apenas um trabalhador rural ou um vaqueiro do Velho Oeste. Ele é um símbolo nacional: o homem solitário, armado, autossuficiente, que não espera o Estado, não confia em instituições e resolve as coisas com as próprias mãos.
Mas antes mesmo do soldado, antes mesmo do agente federal, o grande personagem fundador do imaginário americano foi o cowboy. O cowboy não é apenas um trabalhador rural ou um vaqueiro do Velho Oeste. Ele é um símbolo nacional: o homem solitário, armado, autossuficiente, que não espera o Estado, não confia em instituições e resolve as coisas com as próprias mãos.
Ele é o indivíduo transformado em lei ambulante. E esse arquétipo atravessou os séculos como um fantasma bem alimentado. O cowboy virou o policial durão, virou o agente federal, virou o soldado moderno, virou o “operador” tático. A figura muda de uniforme, mas mantém o mesmo espírito: a ideia de que existe um homem que precisa agir quando o mundo parece fora de controle.
É aqui que a cultura pop entra como combustível. Hollywood não apenas retratou a guerra, mas ensinou o público a senti-la como uma experiência moral. Mesmo quando filmes de guerra mostram sofrimento, trauma e brutalidade, eles quase sempre deixam um gosto final de heroísmo. A guerra aparece como o lugar onde o homem descobre seu verdadeiro valor. O combate vira rito de passagem. O soldado vira personagem nobre. A tragédia se mistura com grandeza. A narrativa se repete de forma tão insistente que, para muita gente, a guerra deixa de parecer um colapso da civilização e passa a parecer uma prova de caráter.
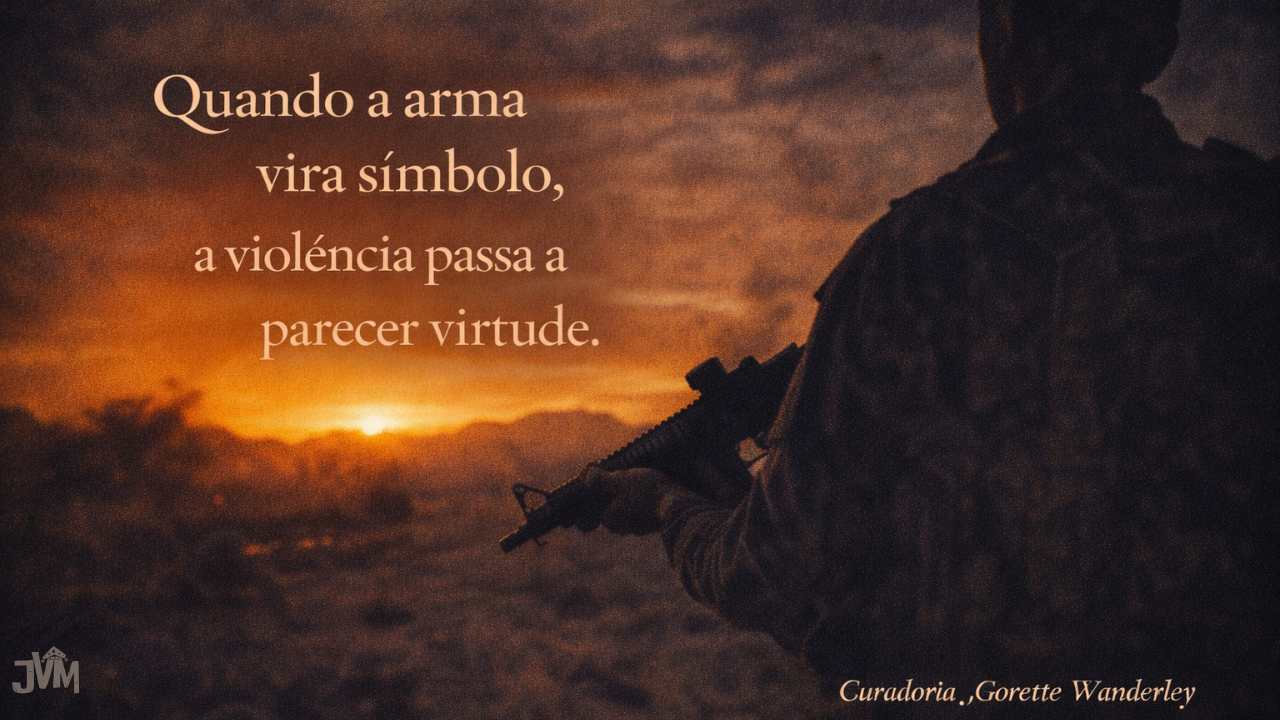
E se o cinema já cria a estética, os videogames fazem algo ainda mais profundo: eles transformam a guerra em hábito psicológico. A diferença é brutal. No cinema, você assiste. No videogame, você participa. Você não vê um conflito, você executa um conflito. Você aprende a lógica da operação, da missão, do objetivo, do inimigo que precisa ser eliminado. Você treina reflexos e aprende a associar adrenalina a vitória. Não existe sangue real, não existe cheiro de pólvora, não existe o peso de uma vida perdida. Existe apenas a recompensa imediata.
Isso cria uma geração inteira para quem a ideia de “combate” já é familiar antes mesmo da vida adulta. A guerra vira estética, vira entretenimento, vira esporte. E aí, quando aparece um anúncio do governo oferecendo uma carreira que parece saída de um jogo, muita gente não vê aquilo como uma burocracia estatal. Vê como continuidade do imaginário.
Os super-heróis, aliás, são um capítulo à parte nessa história. Eles são, no fundo, Destino Manifesto com capa e efeitos especiais. O super-herói americano nasce da mesma lógica do cowboy: um indivíduo excepcional que corrige o mundo porque as instituições são lentas, fracas ou corruptas. O Batman existe porque Gotham falha. O Justiceiro existe porque o sistema não pune. O Capitão América é literalmente a bandeira transformada em homem.
O que chama atenção é que, mesmo quando esses personagens desafiam o governo, eles nunca desafiam o mito da América. Eles não combatem a ideia de pátria, eles combatem o “mau uso” dela. O super-herói americano não é um símbolo de coletividade, como muitas figuras heroicas da América Latina costumam ser. Ele é um símbolo de protagonismo individual, como se o mundo fosse sempre salvo por alguém extraordinário, e não por instituições sólidas ou ações coletivas.
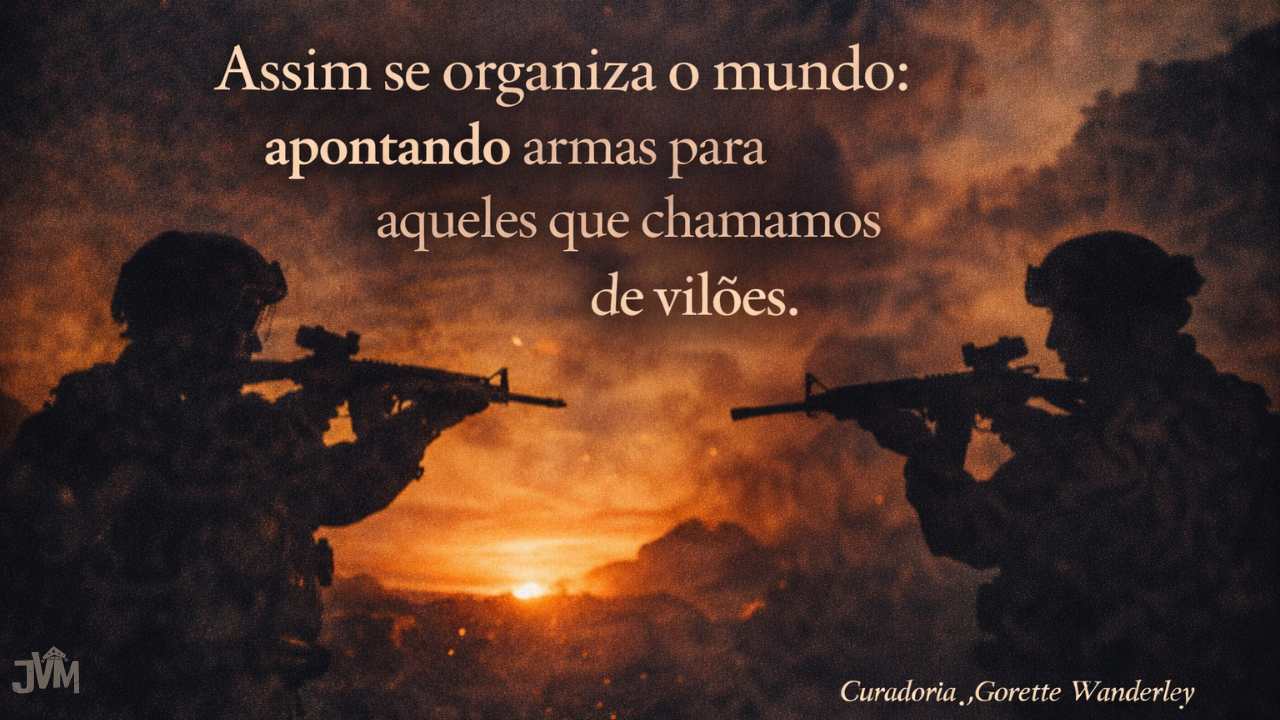
E no meio disso tudo, a arma deixa de ser ferramenta e vira símbolo cultural. No Brasil, arma é frequentemente associada a crime, medo e violência urbana. Nos Estados Unidos, em muitos contextos, arma é associada a liberdade, tradição familiar, autodefesa e até identidade masculina. Ela ocupa um lugar simbólico semelhante ao de uma espada medieval, um objeto carregado de honra, autonomia e direito natural. Quando um país faz isso com um instrumento de matar, ele cria uma mentalidade na qual o combate pode ser romantizado com facilidade.
É por isso que o recrutamento do ICE não soa estranho para parte do público americano. Pelo contrário, ele soa familiar. O ICE está vendendo um papel. Não um emprego. Está vendendo a chance de ser o cowboy moderno, o homem de colete tático que defende a fronteira, o personagem de filme, o protagonista de videogame. A agência se apresenta como se estivesse travando uma guerra contra uma ameaça difusa, e isso é extremamente eficiente num país acostumado a se enxergar como protagonista da história mundial. A fronteira vira a nova fronteira do Velho Oeste. O imigrante vira o inimigo simbólico. A operação vira a missão. E o agente vira herói.
O mais curioso é que tudo isso combina perfeitamente com outra contradição típica da cultura americana: o desejo de resolver o problema do Estado falho através de heróis individuais, mas ao mesmo tempo a devoção absoluta a símbolos patrióticos e à ideia de missão nacional. É como se o americano acreditasse que o governo falha, mas que a América jamais falha. E quando o governo falha, a solução não é fortalecer instituições e processos; a solução é chamar homens armados e dar a eles uma narrativa épica.
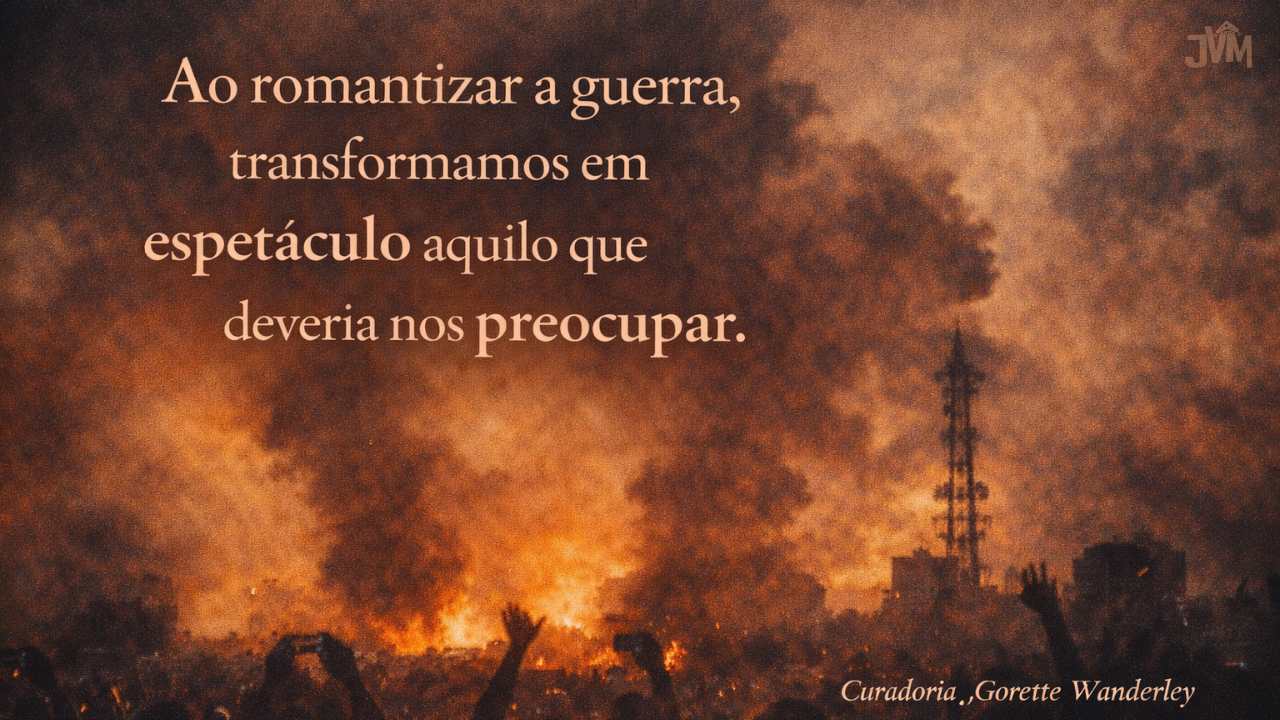
No fim, o que se vê é que o problema não é apenas político. É cultural. O recrutamento agressivo do ICE, com estética militar e linguagem de guerra, não é um fenômeno isolado. É um sintoma de uma cultura que, desde o Destino Manifesto, aprendeu a se excitar com expansão, com fronteira, com conflito e com a ideia de missão.
O cowboy foi substituído pelo soldado. O soldado foi substituído pelo operador. O operador foi substituído pelo agente federal. E o mundo real, com toda sua complexidade, foi reduzido a um cenário onde a América pode continuar encenando o papel que mais gosta: o de salvadora armada de um mundo que ela mesma insiste em enxergar como ameaça permanente.
Talvez seja por isso que, para quem observa de fora, a sensação é sempre a mesma: existe algo profundamente estranho em um país que desconfia tanto do Estado, mas ama tanto a força estatal. Que se diz defensor da liberdade, mas não consegue viver sem inimigos. Que idolatra a paz, mas se organiza culturalmente como se estivesse sempre à beira de uma guerra.
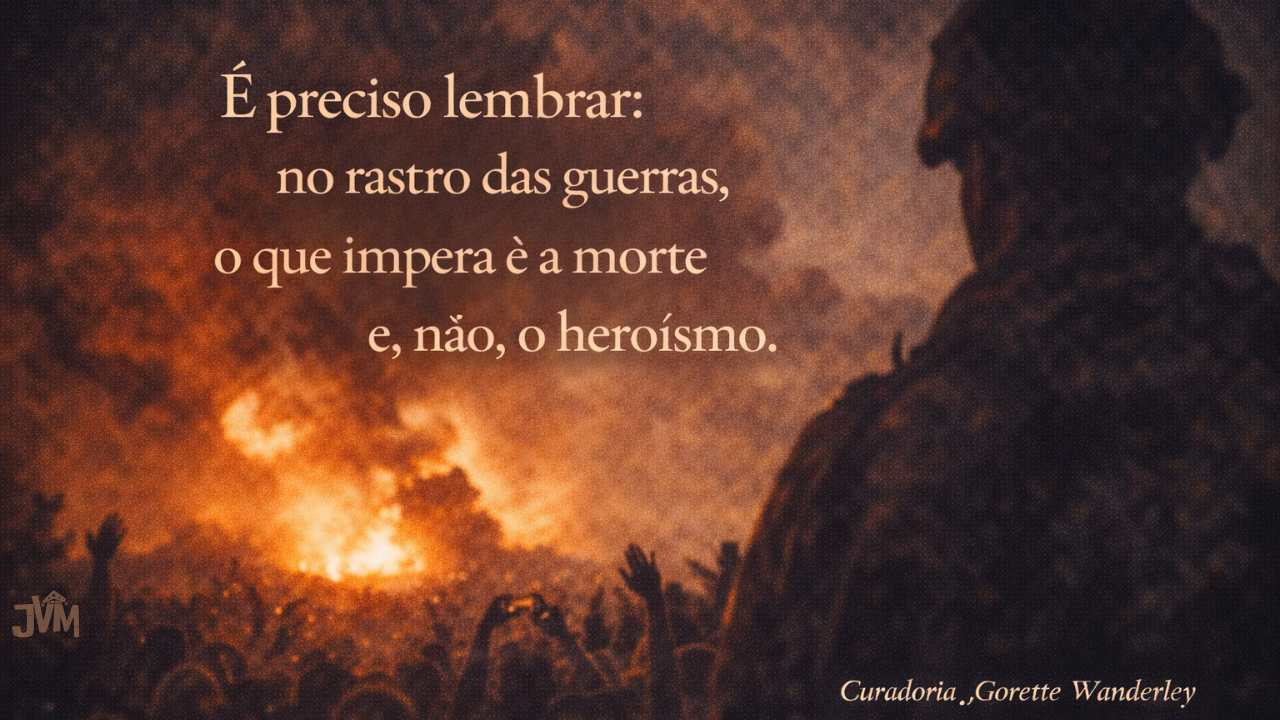
No fundo, o que os Estados Unidos parecem amar não é exatamente a guerra em si, mas a fantasia de protagonismo que a guerra oferece. A guerra, para eles, é menos um evento e mais um enredo: a estrutura que dá forma ao mito nacional. É o roteiro que mantém o país em movimento, como se o simples fato de existir não bastasse sem uma ameaça constante a ser derrotada.
E talvez essa seja a parte mais inquietante de todas. Porque um país que precisa de inimigos para se sentir vivo jamais consegue enxergar o mundo como ele é: um lugar cheio de contradições, interesses e tragédias que não cabem em slogans. O mito americano precisa de guerras do mesmo modo que certos personagens precisam de palco. Sem conflito, o cowboy perde a função, o herói perde o sentido, o soldado perde a aura, e a própria nação perde o papel principal.
No fundo, o maior vício dos Estados Unidos talvez não seja a violência, nem as armas, nem o militarismo. Talvez seja algo mais profundo e mais simbólico: a necessidade quase desesperada de acreditar que o mundo inteiro ainda é o Velho Oeste, e que a América ainda é o único xerife possível.






