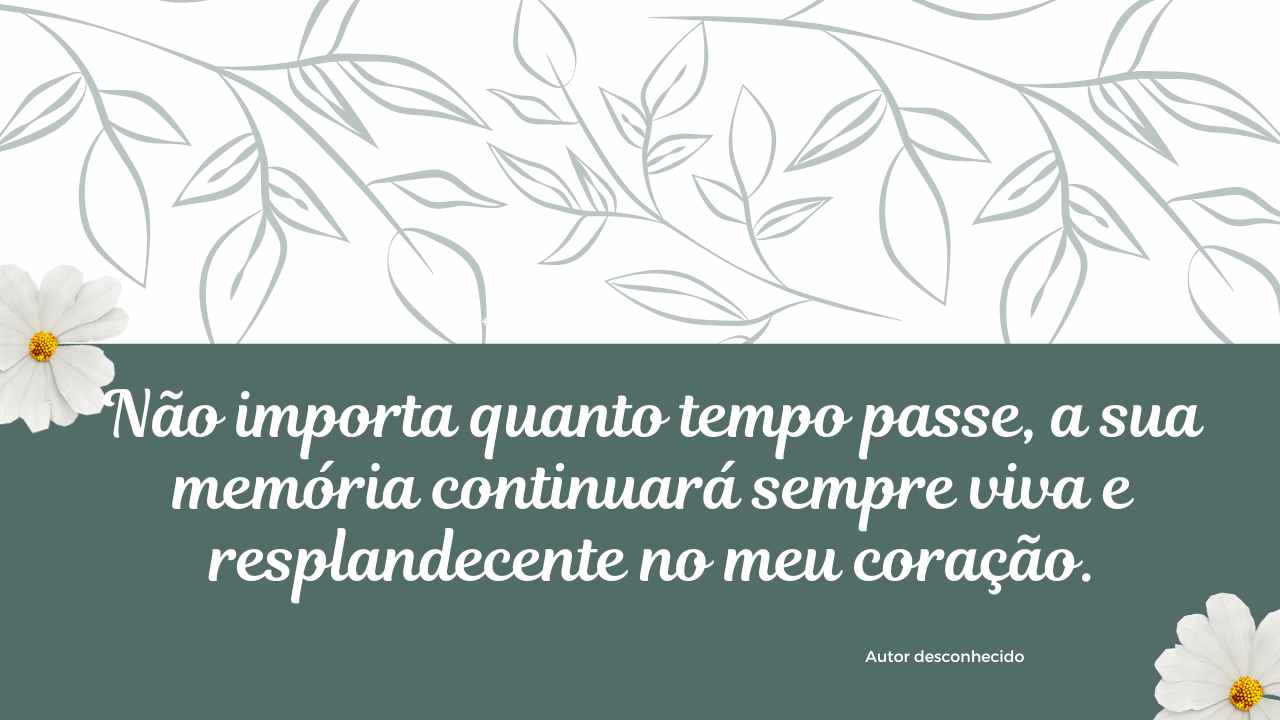
Por: Antonio Henrique Couras;
Terça-feira, pouco depois da uma da manhã mamãe me acorda com a notícia que tia Severa tinha morrido. Aos 97 anos, a última das minhas avós se foi. Claro que já esperávamos, e muitas vezes brinquei com a aparente imortalidade da mais longeva das “meninas”. Mas acredito que nunca estamos realmente preparados para a despedida.
Quando tia Teresa se foi, eu era uma criança de meus 12 anos de idade. Lembro de ter sido perto de uma festa de Halloween da escola de inglês que frequentava, e da minha irmã me dizer que eu era muito novo e não entendia e que poderia ir pra minha festa sem problemas. Não argumentei já que queria muito ir à festa.
Tia Teresa era a mais nova das irmãs da minha avó. Uma força da natureza que brigava comigo quando eu tinha meus seis anos de idade por ter medo dela e de sempre ter preferido os mimos de Tia Maria. “Você só gosta de quem lhe baba!”. Exímia artesã, bordou toalhinhas pra mim e lembro de quando me convocou à sua casa para me dar uns cavalinhos de plástico (meu brinquedo favorito na infância). Mamãe se afastou dela por causa do seu alcoolismo.
Me lembro de quando soube que ela havia sido hospitalizada. Foi a primeira vez que tive que lidar com a doença e morte dentro da minha casa. Lembro de mamãe mover mundos e fundos para conseguir sua internação, das visitas diárias que fazia, e das histórias que contava sobre as crises de abstinência que a tia teve no hospital. Lembro das conversas fatalistas dos familiares que se ela sobreviesse se tornaria um fardo pra família e que precisaria ir morar com as irmãs. Ela não sobreviveu.
Em seguida foi a vez de lidar com os urubus que pilharam sua casa. Brigaram por bibelôs e joias, panelas e quinquilharias. Foi vergonhoso. Mas não a última vez que vivi isso.
Alguns anos depois, vivi um processo intenso e próximo com a doença da minha avó.
Minha vizinha, minha avó que nunca fora doce, se transformou. Mais uma das senhoras da minha vida por quem eu sentia uma aversão quase visceral. Hoje entendemos que talvez sofresse de transtorno de personalidade narcisista. Vivia em pôr os membros da família uns contra os outros. Por quase um século foi a dama de ferro da família, mas a doença de Alzheimer lhe despiu de todas as suas vaidades terrenas. Durante sua doença a visitava diariamente, passava horas conversando com ela. Ouvindo suas histórias e vendo seus álbuns de fotografias. “Ô povo feio!”, exclamava diante das fotos de muitas décadas antes. As histórias que antes nos machucaram tanto, se tornaram anedotas.
Na noite que recebemos o telefonema do hospital avisando de sua morte, fiquei em casa. Ainda de madrugada, fui à sua casa e escolhi o vestido com que foi enterrada. Branco com florezinhas verdes. Sereno. Nada solene. Um retrato do seu último eu, não mais a dama de ferro, mas uma flor que feneceu com um sopro.
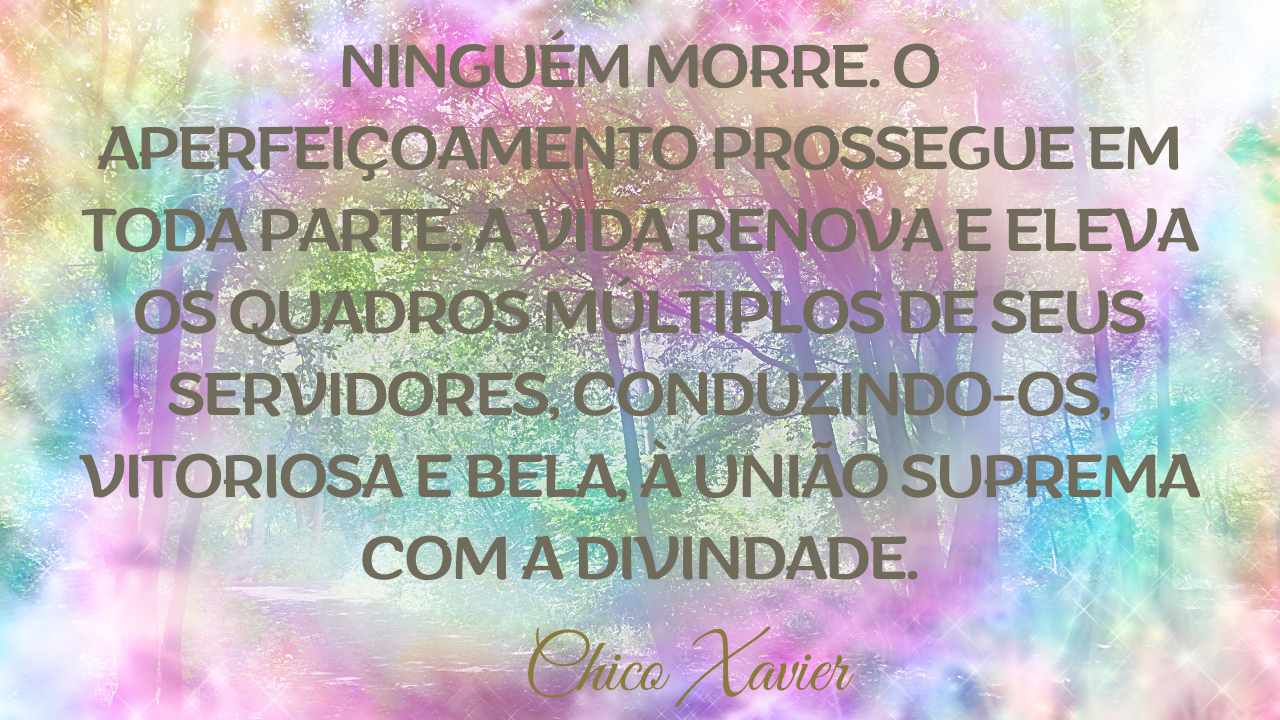
Tia Mirinha escolheu a hora de ir. Mais uma delas levada pelo Alzheimer e suas complicações. Viveu a vida sendo um ser solar que conquistava todos ao seu redor. Uma beleza ímpar (talvez truque da toalete mais complexa que já vi. Chegava a dormir com a cabeça pendurada para fora da cama por causa dos bobs no cabelo), me adestrou em normas de etiqueta. O homem, se estiver acompanhando uma senhora, sempre anda do lado de fora da calçada para que ela fique protegida. Um homem nunca sobe atrás de uma mulher em uma escada para não ver o que não deve.
Me ensinou, quase como os gregos antigos, a cultuar as entidades do lar, as memórias dos antigos. Me contou sobre a história dos santos, das imagens que herdaram da sua avó, como cuidar do lindo santuário. Junto com tia Maria me fizeram me sentir amado sempre, sem tirar nem pôr de quem eu era. O amor delas foi fundamental para que eu resistisse ao mundo.

Acredito que tia Maria, meu xodó desde que eu me lembro, tenha sido um dos seres mais leves que eu tenho notícia de ter conhecido. A única das irmãs, até então, a partir dormindo. Morreu como viveu, do coração. A personificação dos versos de Rita Lee que dizem “Se por acaso morrer do coração é sinal que amei demais”. Quando morreu, deixou pertences o suficiente para encher apenas duas pequenas caixas de papelão. Quase como um anjo, partiu dessa terra sem deixar rastros. Sua vida aqui ficou registrada em algumas poucas fotos e na memória dos inúmeros sobrinhos, que como eu, a tinham como tia favorita.
Tia Severa quase inteirou um século sendo uma “carne de pescoço”. Desde muito criança tinha uma personalidade sem igual. Na casa em que nasceram, hoje submergida nas águas do açude de Condado, o fantasma de um cavaleiro visitava noite após noite. Vinha a cavalo, apeava, abria porta e ruidosamente subia ao sótão com suas esporas retinindo.
Fazia um barulho descomunal lá em cima, descia e ia embora no seu cavalo. Ao invés de se amedrontar como as outras crianças, pediu uma lamparina cheia de óleo e se pôs na janela para ver a assombração em primeira mão. Só adormeceu e deu paz às pobres babás depois que elas, sorrateiramente, colocaram um pouco de cachaça no seu leite (prática comum para conseguirem fazê-la dormir).
Lembro de um dia quando estava sentado na cozinha da casa delas, quando depois de algum comentário, tia Mirinha olha pra irmã e solta uma frase que até hoje nós usamos quando alguém chega com uma notícia que claramente não deveria saber: “ô Severina, como é que você sabe dessas coisas?”. Sempre a primeira a noticiar a morte de um conhecido (ou não), ficou afamada de receber as notícias direto de Satanás.
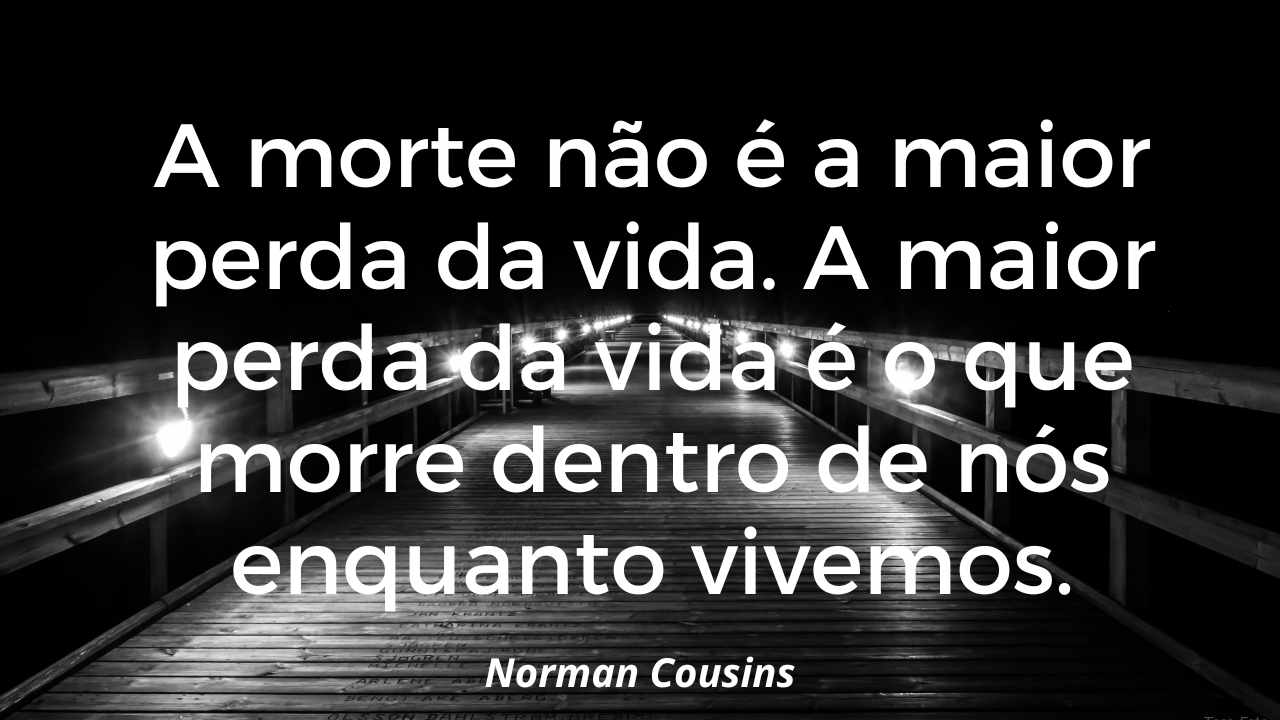
Guardava rancores eternos. Em um dos dias que conversava com ela, perguntei sobre um conhecido (que deixara de visitar a casa depois da morte de tia Mirinha por que tia Severa era completamente desagradável), ao que ela respondeu “em pensar que em 1964 eu passei uma semana dormindo com a mãe dele quando ela se operou”. Nas décadas em que conheceu meu avô deve ter trocado umas 10 palavras com ele. A uma das cunhadas chamava carinhosamente de “a bruxa”.
Com a sua morte um siclo se encerrou. Minha ligação com a infância acabou, bem como as pontes que me ligavam ao sertão e ao passado. Ao partirem, minhas tias e minha avó, que eram para mim como aquelas enormes cordas que prendem os barcos ao cais, foram me soltando no mundo, o que eu acredito ter sido a função delas em minha vida. Mas ao mesmo tempo que eu não estou mais preso a um cais, me sinto também à deriva.
Dizem que a função daqueles que nos criam é que se façam inúteis em nossas vidas. Sua função seria a de nos dar as ferramentas para que nós mesmos possamos lidar com o mundo. Contudo, apesar de acreditar ter aprendido todas as lições, a viagem não se torna menos assustadora. Que a viagem inaugural que nós, que agora ficamos sem nossos cabos, faremos seja tão boa como fomos treinados para ser.






