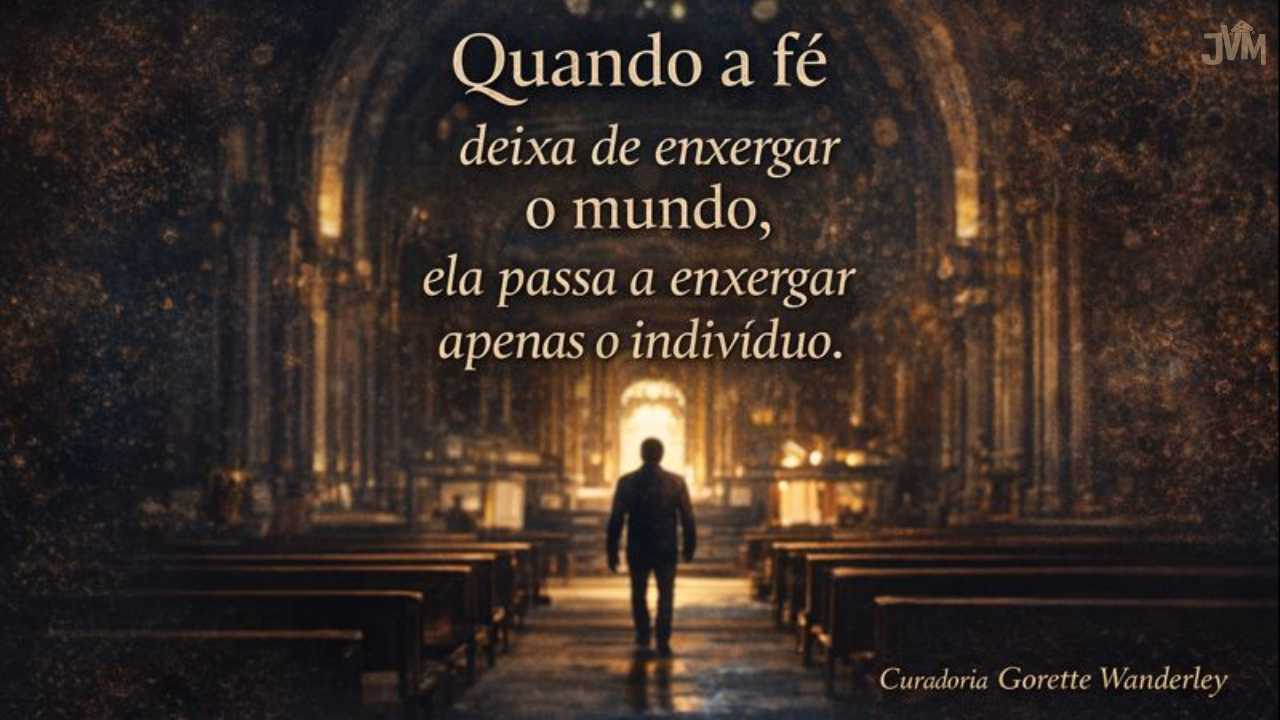
Por: Antônio Henrique Couras;
O documentário Apocalipse nos Trópicos, de Petra Costa, funciona como um espelho incômodo. Ele não revela algo totalmente novo, mas obriga o espectador a encarar um fato já impossível de ignorar: o Brasil mudou de alma religiosa e, com ela, de imaginação política. O país que, em determinado momento do século XX, flertou com um cristianismo voltado para a justiça social, hoje se reconhece cada vez mais num discurso de mérito individual, prosperidade material e salvação privada.
Essa transformação não aconteceu por acaso, nem de forma súbita. Ela é o resultado de um longo deslocamento teológico, cultural e político, que começa muito antes de Bolsonaro, muito antes da bancada evangélica, muito antes das redes sociais. Para entendê-la, é preciso voltar a dois projetos religiosos radicalmente diferentes que disputaram o sentido do cristianismo no Brasil: a Teologia da Libertação e a Teologia da Prosperidade.
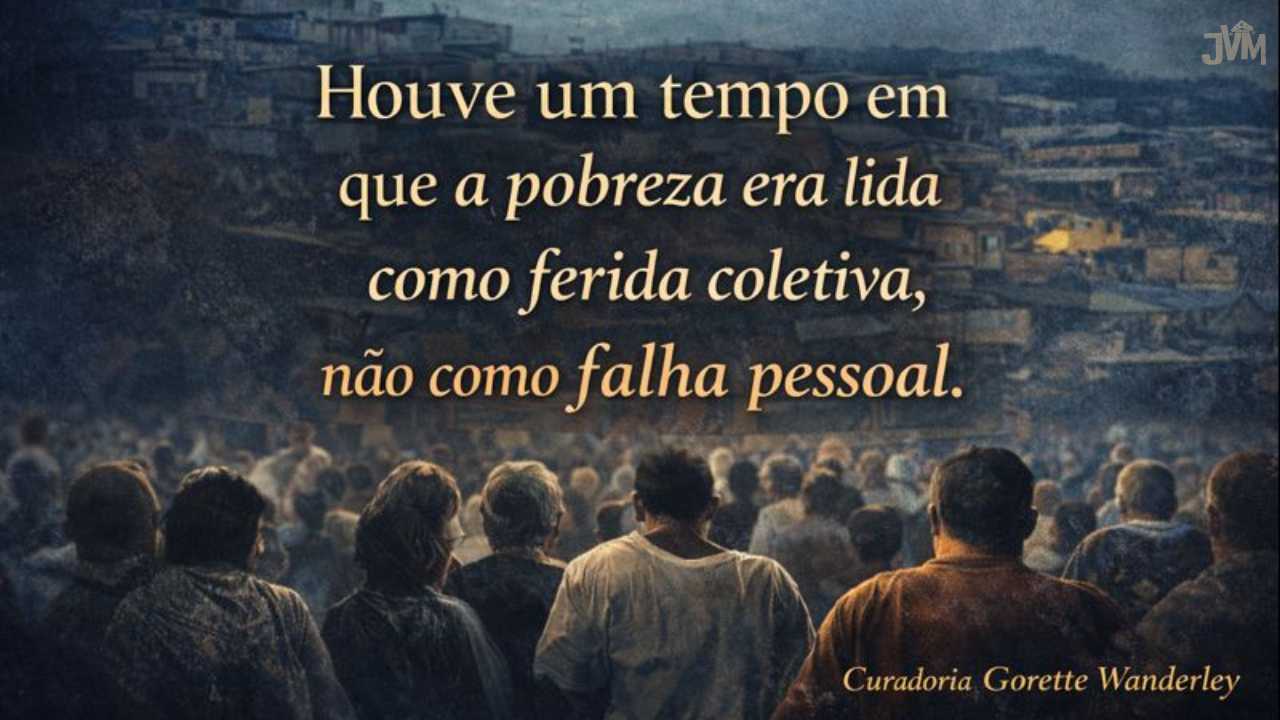
A Teologia da Libertação: quando o pecado era estrutural
A Teologia da Libertação surge na América Latina nos anos 1960 e 1970, em um continente marcado por desigualdade extrema, autoritarismo e exclusão crônica. Influenciada pelo Concílio Vaticano II e, sobretudo, pela Conferência de Medellín (1968), ela parte de uma intuição simples e profundamente subversiva: a pobreza não é um acidente moral individual, mas um fenômeno histórico produzido por estruturas econômicas e políticas injustas.
Nesse pensamento, o pecado deixa de ser apenas aquilo que o indivíduo faz em sua intimidade e passa a ser também aquilo que a sociedade organiza coletivamente. A miséria, a fome, a violência policial, o analfabetismo e a concentração de renda tornam-se sinais de um mundo em desordem moral. Deus não é neutro diante disso. Ele toma partido. E o partido é o dos pobres.

No Brasil, essa teologia ganha corpo nas Comunidades Eclesiais de Base, na atuação de bispos como Dom Hélder Câmara e Dom Paulo Evaristo Arns, e na própria CNBB, que assume um papel incômodo durante a ditadura militar.
Igreja passa a formar consciência política, estimular organização popular e denunciar violações de direitos humanos. Não por acaso, torna-se alvo de vigilância, repressão e desconfiança.
Para os regimes autoritários e para a lógica da Guerra Fria, esse cristianismo era perigoso. Não porque pregasse revolução armada, mas porque ensinava algo talvez mais ameaçador: que a ordem social podia ser julgada moralmente pelos de baixo.

A Teologia da Prosperidade: quando a salvação virou desempenho
Em sentido quase oposto, a Teologia da Prosperidade nasce no contexto do protestantismo norte-americano do pós-guerra, fortemente atravessado pelo individualismo liberal, pela ética do empreendedorismo e pela crença no sucesso como sinal de eleição divina. Ela não se pergunta por que existem pobres, mas por que determinados indivíduos não prosperam.
Aqui, a lógica se inverte. A pobreza deixa de ser um problema estrutural e passa a ser interpretada como falha espiritual, falta de fé, maldição familiar ou incapacidade de acessar corretamente as “leis espirituais” da prosperidade. Deus recompensa quem acredita, quem obedece, quem contribui, quem se esforça. A bênção se manifesta em resultados concretos: dinheiro, saúde, status, consumo.
No Brasil, esse discurso encontra terreno fértil a partir dos anos 1970 e 1980, especialmente nas periferias urbanas e nos vazios deixados por um Estado ausente. Ele oferece algo poderoso: sentido, pertencimento e uma narrativa de ascensão pessoal em meio ao caos. Não promete mudar o mundo, promete mudar a vida de quem crê.
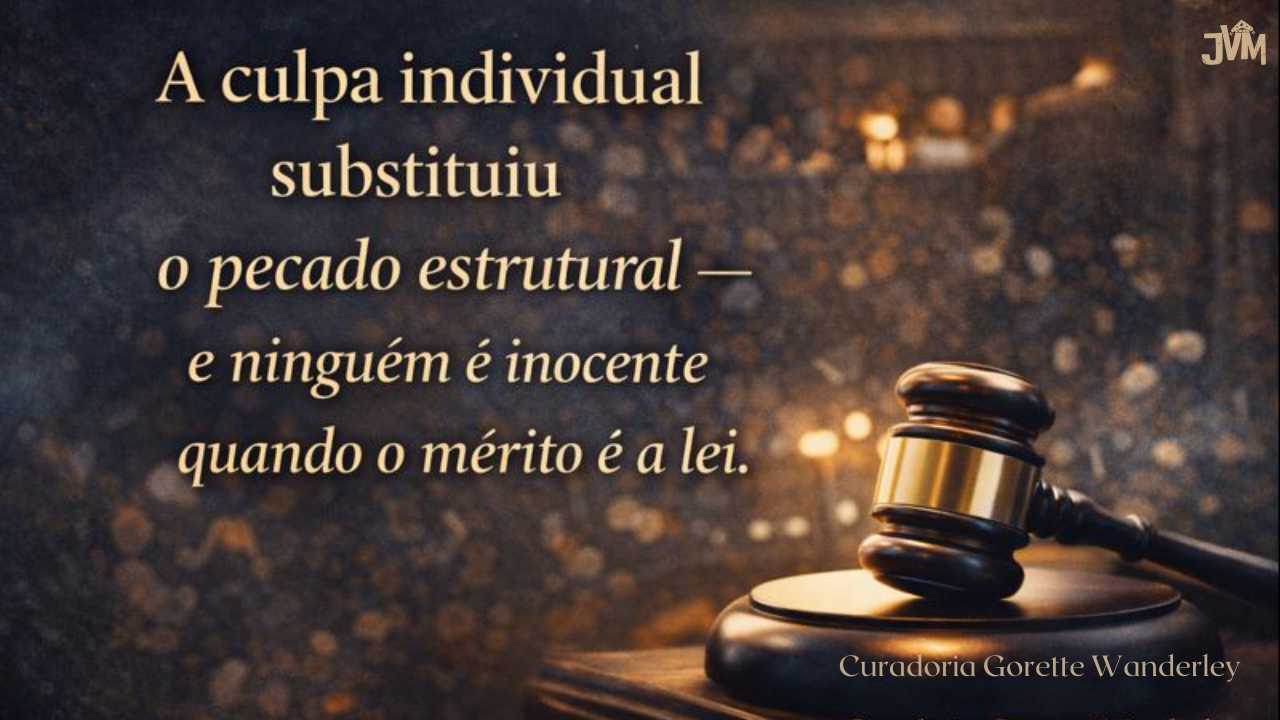
É uma teologia perfeitamente compatível com a ideia de mérito. Se você venceu, foi porque mereceu. Se fracassou, algo está errado com você.
O que Apocalipse nos Trópicos mostra, ainda que sem voltar tão atrás no tempo, é o resultado final desse deslocamento da comunidade para o indivíduo. O Brasil deixou de se imaginar como um corpo social marcado por injustiças compartilhadas e passou a se pensar como uma soma de trajetórias individuais em competição permanente.
Nesse novo imaginário, política vira ruído. Direitos viram privilégios. Solidariedade vira suspeita. O sofrimento do outro deixa de ser um problema coletivo e passa a ser interpretado como consequência de escolhas pessoais. A religião, nesse contexto, não questiona a ordem. Ela a legitima espiritualmente.

O crescimento evangélico, especialmente das vertentes neopentecostais, não é apenas um fenômeno religioso. É um sintoma cultural. Ele acompanha e reforça uma sociedade cada vez mais fragmentada, precarizada e insegura, na qual cada indivíduo precisa provar, o tempo todo, que merece existir com dignidade.
Há uma ironia histórica difícil de ignorar. O cristianismo que se dizia “antipolítico”, focado apenas na salvação da alma, tornou-se uma das forças políticas mais organizadas do país. E o cristianismo que ousou fazer política em nome da justiça social foi progressivamente empurrado para as margens, silenciado ou deslegitimado.
O Brasil não se tornou apenas mais evangélico. Tornou-se mais meritocrático, mais individualista e mais moralmente punitivo. E isso diz menos sobre Deus e mais sobre o tipo de sociedade que aprendemos a aceitar como natural.
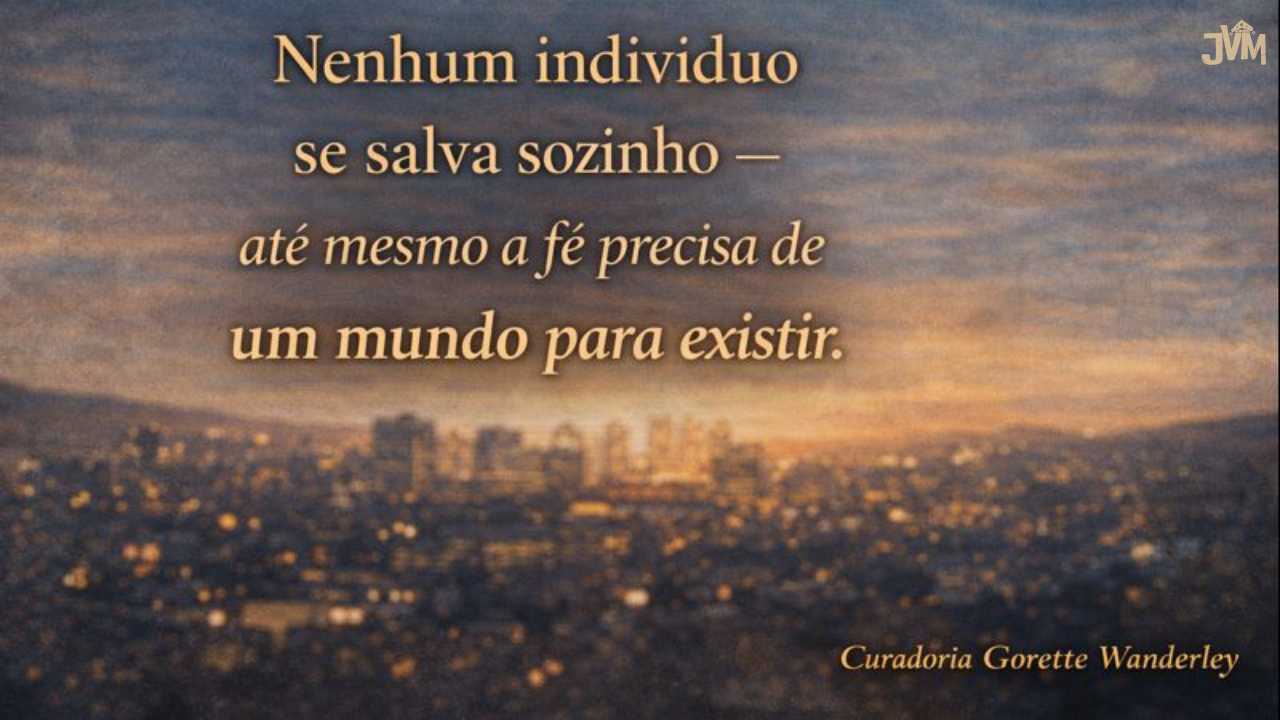
Apocalipse nos Trópicos não é um filme sobre religião. É um filme sobre o vazio deixado quando a ideia de mundo comum se desfaz. Onde antes havia pecado estrutural, hoje há culpa individual. Onde havia esperança coletiva, hoje há performance. Onde havia comunidade, hoje há competição espiritual.
Talvez o verdadeiro apocalipse não seja o fim dos tempos, mas o fim da capacidade de imaginar que a salvação possa ser algo maior do que o sucesso pessoal.






