
Por: Antônio Couras;
Volta e meia me deparo com resquícios de um passado que normalizamos sob a forma de anedotas. Quem já teve contato com casas antigas, que refletiam os costumes de outros tempos, certamente se deparou com os “quartos das meninas”. Em muitas construções, o dito quarto tinha, por única porta, uma que dava passagem pelos aposentos dos pais. Outras vezes, nem janelas havia; em tantas outras, as janelas tinham barras de madeira ou grades, ou ainda davam para corredores internos ou outros cômodos. Medidas protetivas — diziam — em relação à honra das donzelas.
Agora lhes pergunto: quais eram, afinal, os possíveis perigos? Bem, tão comuns quanto os ditos quartos são as histórias de avós e bisavós “pegas no laço”, “roubadas” das casas de seus pais… E o ponto aqui é que, se as moças compactuavam com o feito, o fizeram de modo tão discreto que mal deixaram notícias.
Sim, não devemos olhar o passado com os olhos do presente — verdade. Mas esse passado ainda é, de certo modo, presente em nossas vidas, sobretudo se considerarmos que muitas dessas mulheres ainda vivem entre nós.

Imagine, então, que famílias e mais famílias começaram com a seguinte anedota: a moça, vista na beira do rio, no caminho da escola, na missa — onde fosse, às vezes até em casa — despertava o interesse de um rapaz (às vezes mais pendente a senhor, mas vamos lá). Ele, com a ajuda de amigos, primos, irmãos, capatazes, planejava: invadia o quarto da moça e a raptava na calada da noite, ou enquanto ela lavava roupas no rio, ou pastoreava ovelhas — ou seja qual for a versão específica da família. O resto, como dizem, é história.
Mas vamos dar nomes aos bois e cores ao quadro. A moça sequestrada era, então, estuprada — obviamente. Era a forma de tornar a “transação” irreversível. Mercadoria danificada não podia ser devolvida. A família, então, a repudiava. Moça desgraçada, desonrada, “ofendida”, não podia mais voltar para casa. Agora era responsabilidade — e posse — do marido.
Mas que marido? Onde houve casamento? Pois é. Queira Deus que o “bem-intencionado” raptor se casasse com ela; do contrário, o que lhe restava? Suicídio ou prostituição. Deixo a cargo do leitor decidir o final mais piedoso para a mocinha.

Sei que deve haver algum romance (provavelmente escrito por um homem) que romantize toda a situação, mas o fato é que, numa época em que os casamentos arranjados já pareciam o grande mal, imaginem os casamentos que começaram com sequestro, estupro e o cárcere privado de uma vida inteira.
A notícia, obviamente, se espalhava. E a moça, se quisesse outro destino, podia tirar o cavalinho da chuva e aceitar o seu fado. Ainda que voltasse para casa, seria repudiada. Virava “moça falada”, e seu único atributo — o de esposa em potencial — estava perdido. Seu cárcere não precisava de muros nem de cercas: tinha nos costumes, e na lei, a sua irreversibilidade.
Durante muito tempo, em várias partes do mundo, vigoraram leis que, como punição pelo estupro, obrigavam o agressor a se casar com a vítima. Alguém poderia chamar isso de “ideia de jerico”, mas eu daria outro nome: “ideia de homem”. A intenção era a “reparação” — não à mulher, mas à honra da família. Porque, afinal, o que é uma mulher?
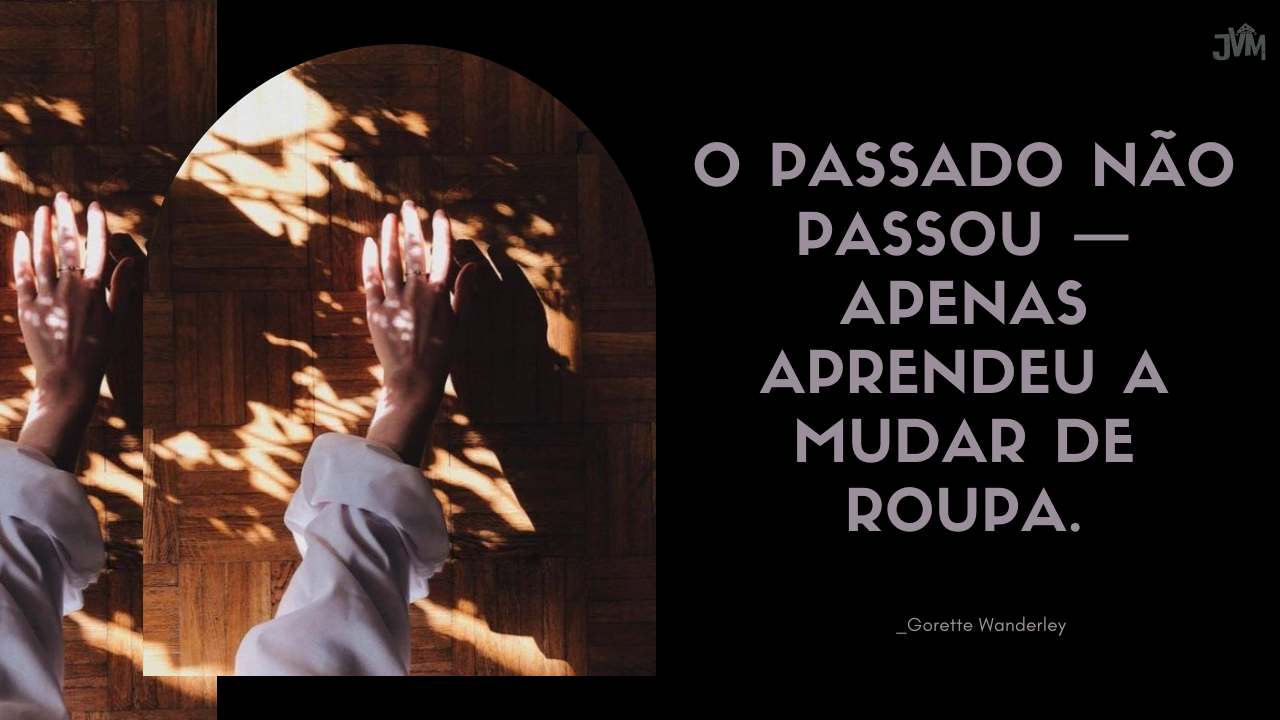
No Brasil, vale relembrar, as mulheres deixaram de ser consideradas juridicamente “parcialmente incapazes” apenas em 1962, com a promulgação do Estatuto da Mulher Casada (Lei nº 4.121, de 27 de agosto de 1962). Até então, o Código Civil de 1916 colocava a mulher casada na mesma categoria de incapacidade relativa que menores de idade, pródigos e silvícolas. Isso significava que ela não podia administrar seus próprios bens, celebrar contratos, trabalhar sem autorização do marido ou exercer plenamente seus direitos civis — tudo dependia da chamada autorização marital (autorização do marido).
O curioso é que, se a mulher fosse solteira, a história mudava um pouco — mas não tanto assim. O Código Civil de 1916 lhe reconhecia plena capacidade, desde que não estivesse sob a autoridade do pai ou de um tutor. Ao atingir a maioridade, podia administrar bens, firmar contratos, escolher onde viver. No entanto, bastava casar para perder tudo isso. Até 1962, o casamento a colocava sob o “poder marital”, e o marido passava a decidir por ela — do endereço da casa ao destino do dinheiro. Era uma liberdade condicional: a mulher podia ser dona de si, mas apenas enquanto estivesse sozinha no mundo.
Como dizem os jovens: o golpe tá aí. Cai quem quer. Mulher é gente — até que tenha um homem que mande nela.
Desde o Código de Hamurabi já se via esse raciocínio: o corpo feminino como propriedade a ser compensada. No Império Romano, o estuprador podia escapar da pena se desposasse a moça. E o absurdo atravessou séculos. Na Itália, essa brecha só caiu em 1981; no Marrocos, em 2014; em países como o Egito e a Jordânia, um pouco depois. A violência não era o crime — o crime era a vergonha pública, a desonra do pai, do marido, do irmão…

No Brasil, a história seguiu o mesmo roteiro. O Código Penal de 1940 previa que, se o estuprador se casasse com a vítima, o crime deixava de existir. Estava lá, frio, no artigo 107, inciso VII. A mulher era mero objeto de restauração moral, trocada pela aparência de decência. Essa previsão só foi revogada em 2005, e o entendimento de que a violência sexual é um atentado à dignidade — e não à honra — só começou a se consolidar no século XXI!!!
Sabe o mais assustador? Enquanto escrevia este texto, me dei conta de que as mulheres ainda têm medo de andar sozinhas, de serem estupradas, da mesma forma que em mil oitocentos e Pharmácia com “ph”. A diferença é que hoje o estuprador não leva mais a moça como “prêmio”, a lei não mais o acoberta — mas leis, não só no Brasil, que proíbem ou dificultam a interrupção da gravidez mesmo em casos de estupro apenas dizem que, hoje, um estuprador já não escolhe uma esposa, mas escolhe a mãe de seus filhos.






