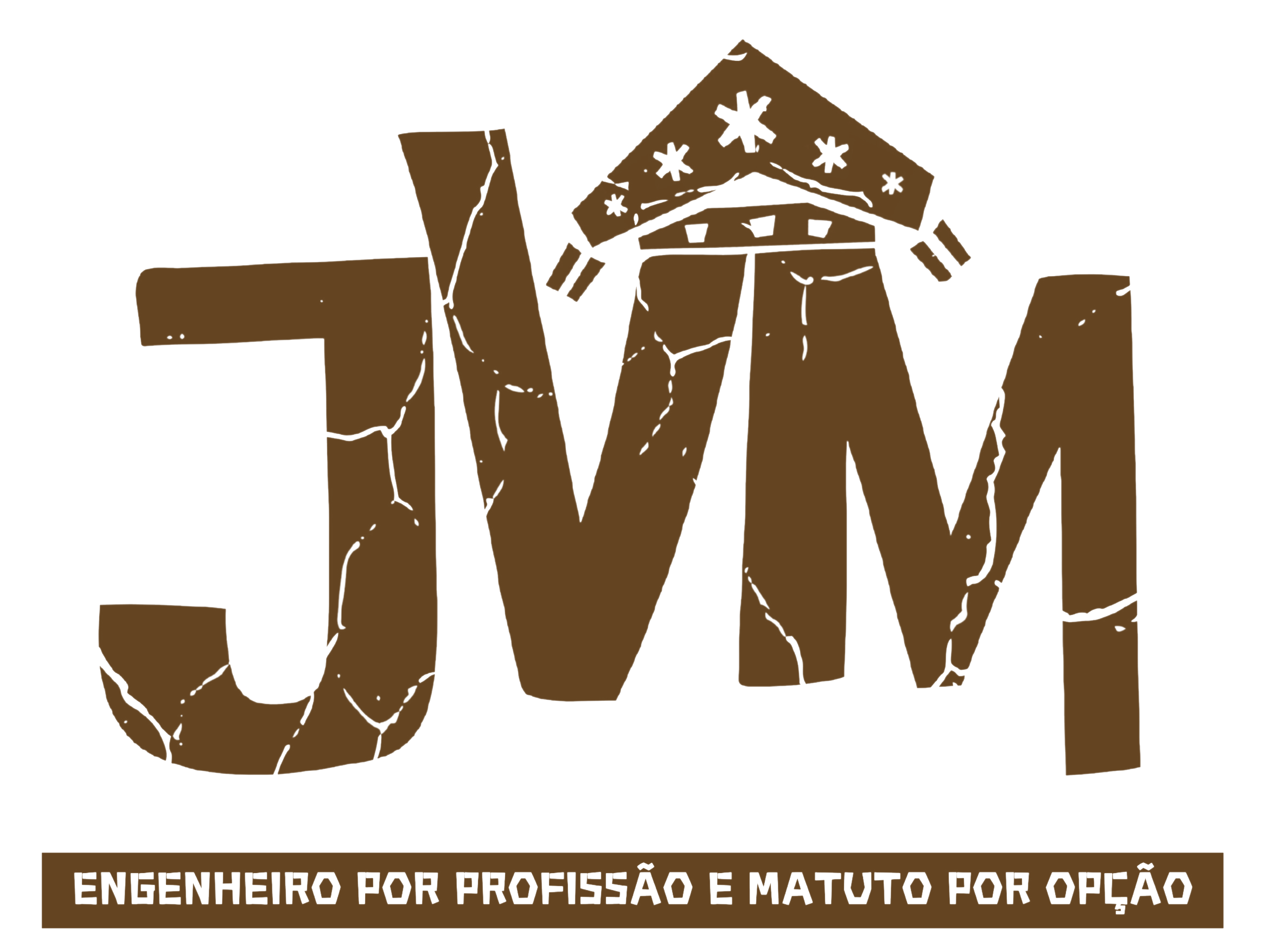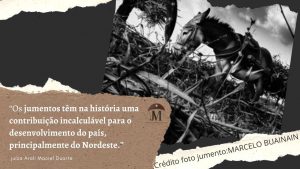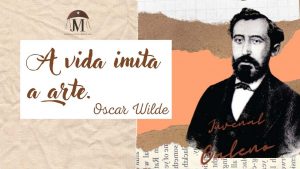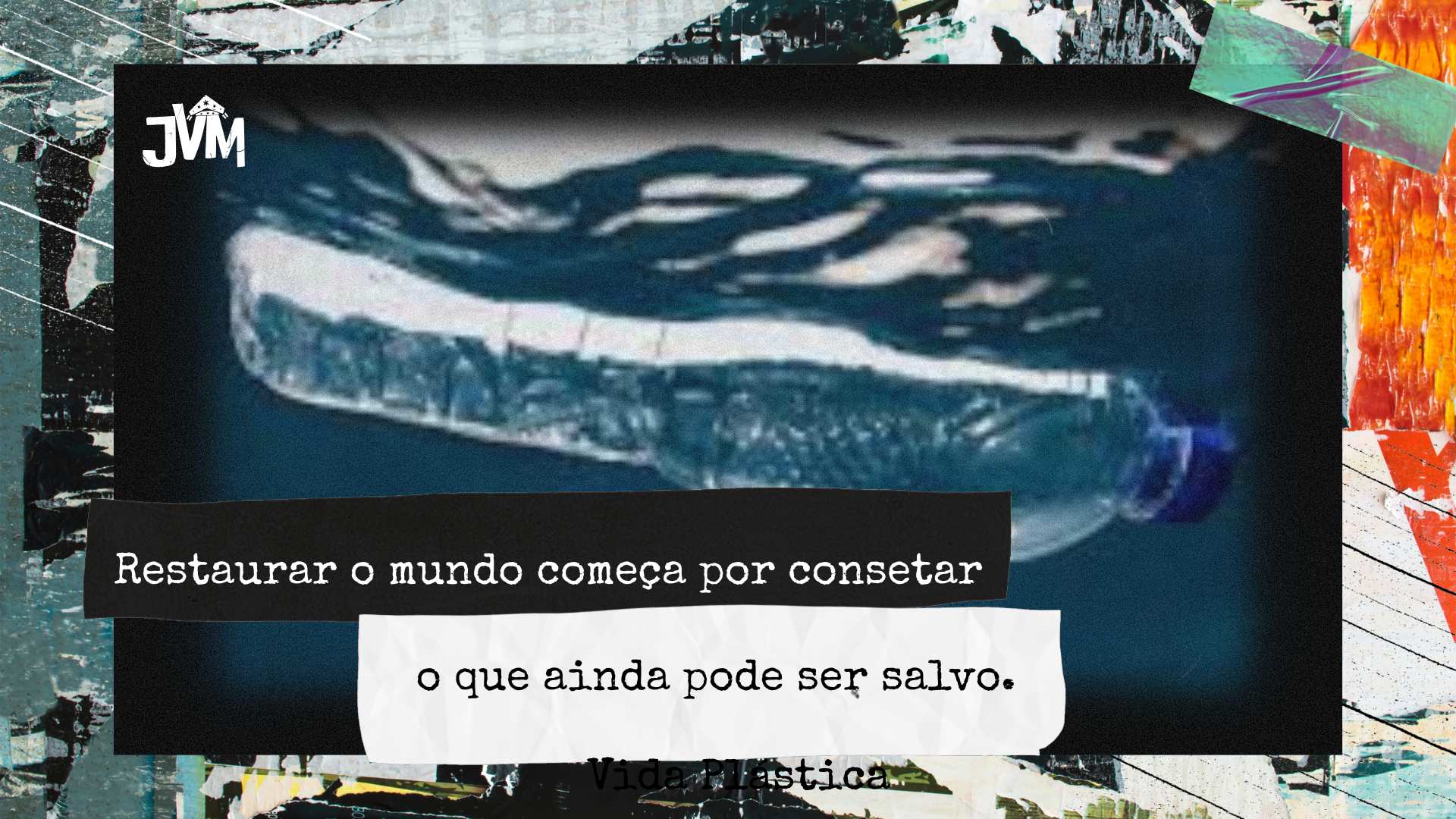
Por: Antonio Henrique Couras;
Como tem sido o meu costume nos últimos tempos, venho usando as redes sociais para desligar meu cérebro do mundo. Dentre as coisas que muito me apetecem assistir estão os vídeos de restauração. Dentre esses algo muito recorrente vem se mostrando: as restaurações de peças milenares encontradas em cavernas, tumbas ou pântanos são muito mais simples do que a de objetos cotidianos do século XX feitos em plástico.
Não importa se são roupas de lã tricotadas encontradas em algum lamaçal friorento da Noruega, papiros encontrados nos desertos do Oriente Médio ou cerâmica na América do Sul. Até mesmo um pão fossilizado já foi encontrado em Pompéia, todos esses artefatos duram mais que os nossos artefatos de “couro ecológico” que com o passar do tempo se desintegram nos armários.
Mas por que isso?
A explicação começa no século XX, com a invenção e posterior popularização dos polímeros sintéticos. A baquelita, criada em 1907 é considerada o primeiro plástico totalmente sintético, mas foi após a Segunda Guerra Mundial que ele se espalhou de forma avassaladora. Com o avanço da petroquímica e a busca por materiais mais baratos e versáteis, o plástico se transformou na grande promessa da modernidade: leve, moldável, resistente à água, barato… Todas essas características o fizeram também descartável.

Afinal de contas quando os baldes e bacias eram de metal ou louça, nós os colávamos ao infinito. Soldas, massas, arames, madeiras… Tudo era usado para estender a vida de um objeto. Mas quando tais objetos cotidianos passaram a ser facilmente encontrados e infinitamente baratos, pra que consertá-los?
Outrora os sapatos eram de couro, feitos por sapateiros e sob medida. Caríssimos. O ritual de se engraxar os sapatos era sagrado. Nós os usávamos até as solas furarem, e então eram remendadas ou repostas. Hoje, temos uma coleção de sapatos no armário, alguns comprados por valores tão baixos que certamente quem os fez não recebeu nada ou quase nada. E quem não se deparou com aquele lindo sapato guardado no armário para “ocasiões especiais” que no meio da festa soltou o solado ou começou a se desmanchar? Pois é. O culpado é o plástico. Seja no solado emborrachado, seja na cola ou na linha feitas a base de polímeros.
Hoje mesmo ao arrumar a minha cama percebi que os babados do meu lençol estão se desfazendo. O lençol em si, de algodão, segue imbatível em sua qualidade, já os aviamentos vêm me deixando na mão. São linhas que se desmancham me deixando com fronhas descosturadas, babados que se desfazem ao menor esforço.
O plástico nos deu a porta do paraíso do consumo, mas na entrada não nos contaram que esse paraíso não era perpétuo.

Não sei se o plástico foi feito para durar pouco, ou se os cientistas que o desenvolveram sabiam como ele se degradaria porcamente com o tempo, ou se imaginavam que iria durar como os materiais tradicionais. Talvez ele tenha sido criado para “durar o suficiente”. Sua estrutura molecular, composta por longas cadeias de polímeros, é estável do ponto de vista químico, mas instável quando exposta à luz UV, ao calor e à oxidação. Isso significa que uma embalagem plástica pode demorar séculos para se decompor na natureza, mas, paradoxalmente, pode se esfarelar completamente em algumas décadas quando deixada numa estante, perdendo integridade, tornando-se quebradiça ou pegajosa. E esse é o caso de incontáveis itens de museus ao redor do mundo que se desvelam em manter em seus arquivos itens do último século.
São sapatos, roupas, acessórios, mas também itens do cotidiano que por mais que bem cuidados pelos curadores se esfarelam ao mínimo toque. Me pergunto como serão tratadas as pinturas feitas com tintas acrílicas daqui a algum tempo. Se também terão o mesmo destino, ou se perdurarão no tempo como as têmperas e os óleos. Curioso imaginar que pó de terra misturado com óleo ou gema de ovo podem durar séculos mais que uma substância que requer anos de pesquisa dos mais avançados cientistas.
Muitos dos plásticos usados entre as décadas de 1950 e 1980 não foram pensados para preservação. Eles foram misturados com aditivos para deixá-los mais flexíveis, coloridos ou resistentes, mas esses mesmos aditivos aceleram sua degradação com o tempo. Assim, um brinquedo dos anos 70 ou uma mala dos anos 80 pode estar hoje tão frágil quanto papel molhado, enquanto um vaso de barro feito há 3.000 anos segue firme e inteiro.
É por isso que, em tantos vídeos de restauração, vemos o absurdo: uma escultura egípcia feita há milênios pode ser limpa com pincel e algodão, mas uma boneca da Barbie de 1965 exige cuidados laboratoriais para não se desfazer ao toque. Nossos objetos modernos são frágeis porque foram pensados para o agora, não para o depois. E esse depois não é nem daqui a três mil anos, é a próxima estação quando iremos tirar os casacos do armário, ou daqui a algum tempo quando continuaremos a usar nossas roupas de algodão mas que foram costuradas com linhas de poliéster.

Hoje o plástico é onipresente: no teclado com que escrevo, no botão da sua camisa, na lente dos seus óculos, no seu cartão de crédito, no fio do carregador, no carro, no sofá e até no esmalte das unhas. Somos uma civilização moldada por polímeros.
E é exatamente por isso que a humanidade, em um raro lampejo de autocrítica global, começa a se perguntar: e agora? Como seguimos? Como mantemos o conforto e a praticidade sem deixar um legado de microplásticos nos ossos dos peixes e nas placentas humanas?
Foi nesse espírito que, em junho de 2025, líderes de quase uma centena de países se reuniram na França e lançaram a chamada Declaração de Nice. Uma tentativa (tardia, mas necessária) de dizer basta. Basta à produção desenfreada de plástico. Basta à lógica do descarte como regra. Basta ao mito de que podemos continuar embalando tudo em camadas e mais camadas de polímeros sem consequências.
A Declaração de Nice não é ainda um tratado vinculante, mas é um grito político. Ela cobra um acordo global ambicioso, com força de lei, para limitar, controlar e eventualmente eliminar os plásticos de uso único. Propõe metas concretas de redução da produção de plástico virgem, incentiva o design de produtos que sejam de fato recicláveis e exige mais transparência das indústrias quanto ao ciclo de vida de seus produtos.
Ela surge como resposta à frustração com as rodadas de negociação do Comitê Intergovernamental sobre Poluição Plástica, que desde 2022 tenta esboçar um tratado planetário. Um processo lento, travado por lobbies da indústria petroquímica e por governos que ainda veem o plástico como pilar econômico. E enquanto essas negociações emperram, toneladas de resíduos continuam fluindo para os rios, mares, solos, corpos.

É simbólico que essa declaração tenha sido feita às margens do Mediterrâneo, um dos mares mais antigos e mais contaminados do planeta. Simbólico também que o apelo venha de chefes de Estado que reconhecem, tardiamente, que o plástico nos moldou, mas agora nos asfixia. Que o mesmo material que democratizou o consumo também democratizou a poluição. E que, se não mudarmos radicalmente de rumo, não haverá restauração possível nem para os oceanos, nem para nós.
É um ponto de virada. Ou deveria ser.
Porque não há curador no mundo que consiga restaurar uma tartaruga morta por ingerir sacolas. Nem restaurador que recoloque no planeta os corais sufocados por microplásticos. Tampouco há algodão puro que resista se costurado com linhas feitas para desmanchar em silêncio.
Talvez, no futuro, os vídeos de restauração mostrem menos bonecas dos anos 60 se desintegrando e mais soluções que foram feitas para durar. Talvez vejamos um novo capítulo de criatividade humana, onde a durabilidade e o cuidado voltem a ser virtudes. E que os cientistas que hoje desenvolvem alternativas ao plástico sejam lembrados como os restauradores do nosso próprio tempo.
Enquanto isso, sigo vendo vídeos. E arrumando minha cama com lençóis de algodão e babados que se desfazem. Pensando que, no fundo, restaurar o mundo pode começar por aí: remendando o que ainda dá para salvar.