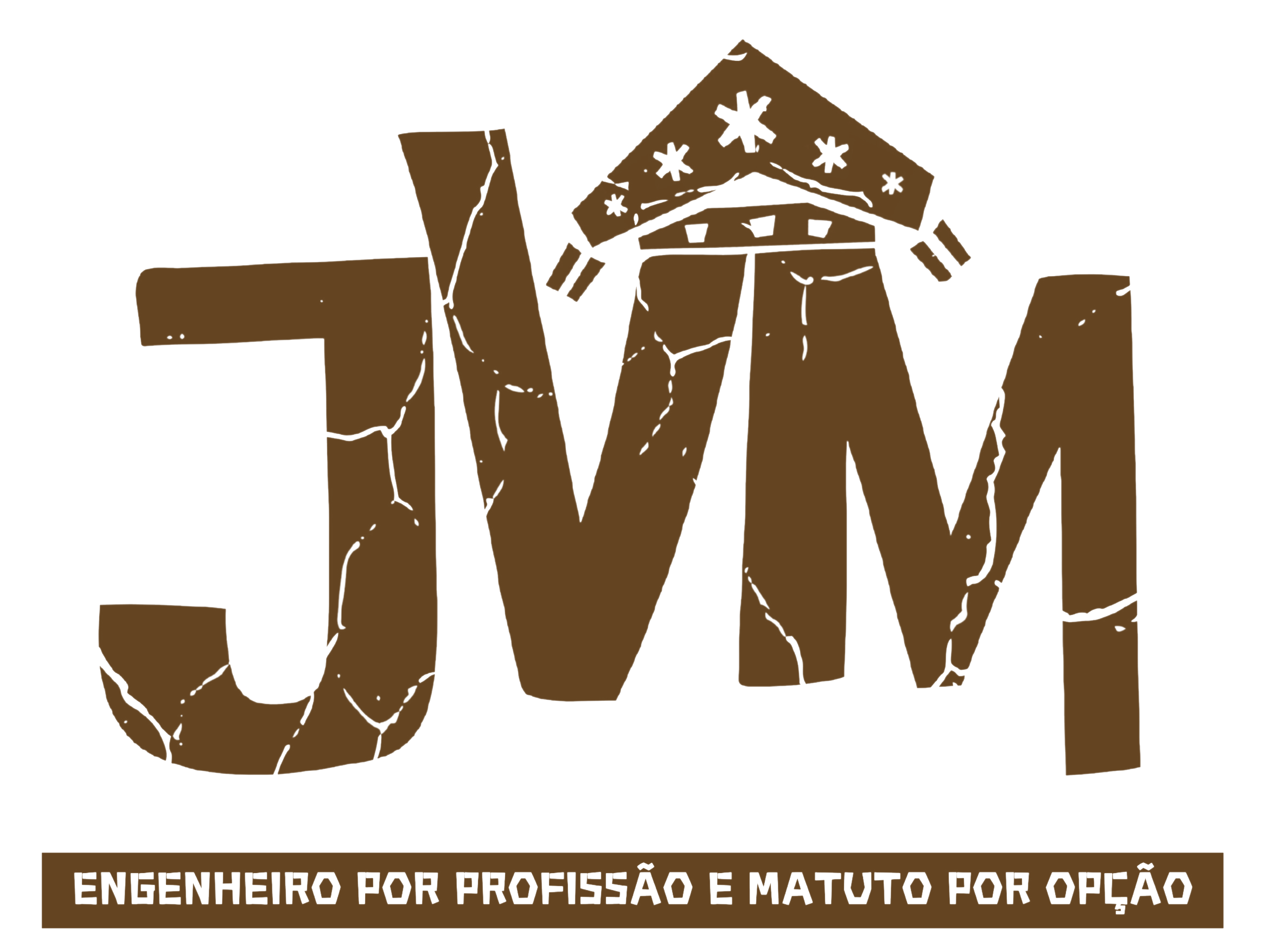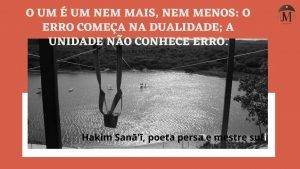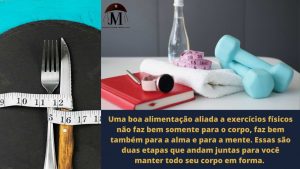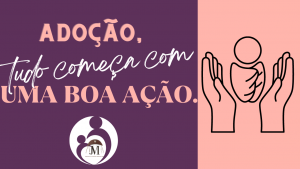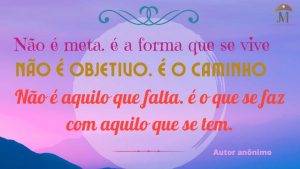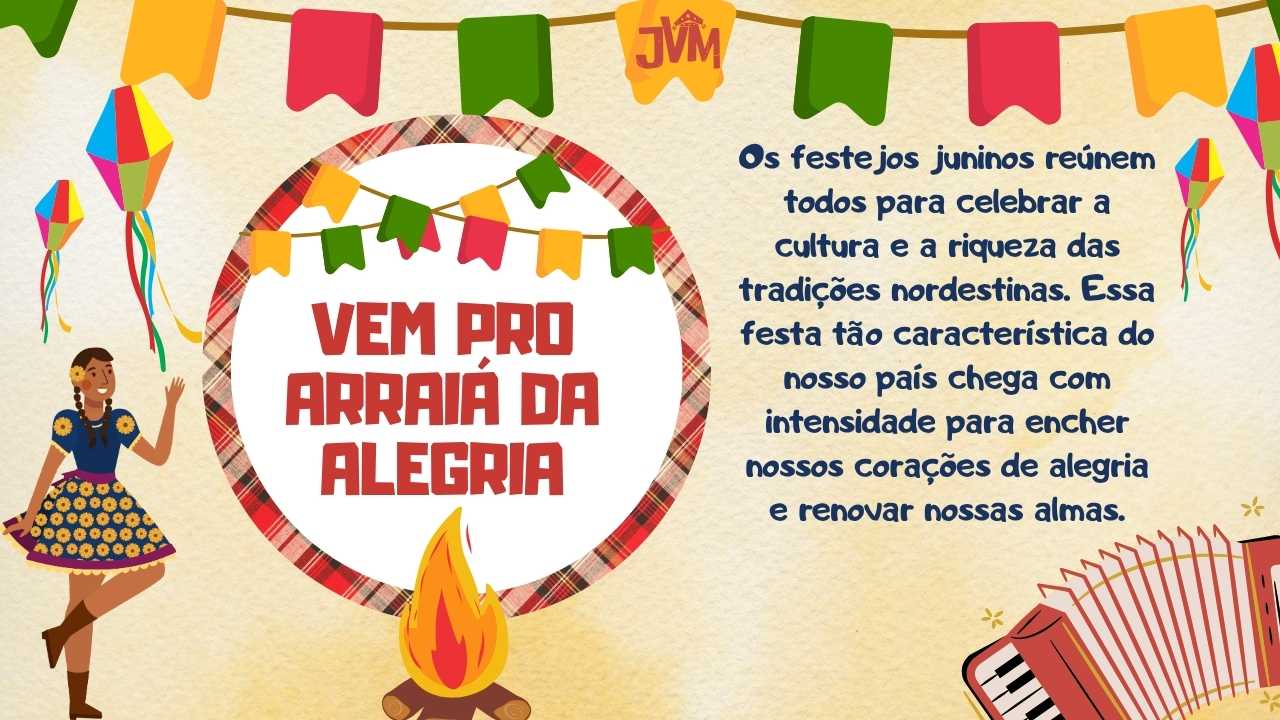
Por: Antonio Henrique Couras;
Ainda no clima dos festejos de junho, outro dia me deparei com uma escola que recomendava que seus alunos não fossem às festas vestidos com trajes que estereotipassem “caipiras”. A intenção era louvável, diziam: combater caricaturas que reforçam imagens distorcidas do homem do interior. Um historiador explicava que a tal figura do caipira, com seus dentes pintados de preto, chapéu torto e calça remendada, havia sido criada, ou ao menos consolidada, por Mazzaropi, comediante, ator e cineasta paulista que fez sucesso entre as décadas de 1950 e 1980 ao retratar de forma cômica e popular o homem do interior brasileiro em dezenas de filmes de grande apelo popular,
A figura do caipira, como a conhecemos hoje, é fruto direto do imaginário paulista em tempos de rápida urbanização. Mazzaropi, com talento e tino comercial, encarnou um personagem que servia de espelho e consolo: o homem do campo simplório, matreiro, terno, engraçado. Uma espécie de entidade criada justamente para contrastar com a arrogância moderna das capitais que cresciam a toque de caixa. E ali, no cinema, nasceu um tipo. Um tipo que se espalhou pelo Brasil não como identidade, mas como estereótipo.
O problema não é a crítica ao estereótipo. É a apropriação silenciosa e sistemática de uma cultura que vai muito além do que se representa nas escolas uma vez por ano. No Sudeste, especialmente em São Paulo, a festa ganhou contornos de quermesse enfeitada, com comidas típicas e quadrilha “matuta”, mas sem a alma. Virou adereço. Um Halloween tupiniquim em que se fantasia de pobre, se dança com sotaque forçado e depois se volta à vida normal.
Mas no Nordeste, não. No Nordeste São João não é fantasia.
Aqui não há a roupa remendada, desconjuntada… Aqui nos vestimos com nossas melhores roupas, engomadas, cheirosas, escolhidas a dedo. Os tecidos usados nas festas, como o quadriculado e a chita, têm histórias que atravessam oceanos e séculos. O quadriculado, com seus padrões de xadrez simples, tem origem nas tradições rurais europeias, onde era amplamente usado entre camponeses como tecido resistente para o dia a dia e também para ocasiões especiais. Já a chita, com suas estampas florais vibrantes, nasceu na Índia e chegou ao Brasil ainda no período colonial através das rotas comerciais portuguesas. Durante muito tempo, foi o tecido mais acessível às classes populares, sendo adotado tanto por sua beleza quanto por sua praticidade. Em tempos em que a indústria têxtil era limitada e importar tecidos finos era privilégio de poucos, a chita e o algodão quadriculado eram o melhor que a gente da terra tinha acesso.
Vestir-se com esses tecidos, portanto, não era se fantasiar de nada nem de ninguém. Era, ao contrário, vestir-se com o que se tinha de melhor. Era celebrar com dignidade, com cor, com textura. A chita encontrou solo fértil para florescer nas festas populares, especialmente no São João, onde passou a vestir o povo com identidade, memória e orgulho. O xadrez, com sua sobriedade rústica, e a chita, com sua alegria estampada, foram muito mais que tecidos: foram linguagem visual de uma cultura viva. Ambos os tecidos foram ressignificados nas festas como expressão de resistência cultural. Camisas quadriculadas com brilho de novas, vestidos de chita armada com rendas nas mangas, laços, sapatos limpos. A festa era coisa séria. É o nosso maior rito de celebração. Nada de caricatura: É orgulho. É pertencimento.

E esse pertencimento vem de longe. Desde a Península Ibérica, os festejos de São João já combinavam fé e festa, santos e solstício, fogueiras e devoção. Os portugueses, que já acendiam fogueiras para celebrar João Batista, trouxeram esse costume para cá, onde ele se misturou aos rituais indígenas, à musicalidade africana, aos sabores da terra. No Brasil colonial, sobretudo no Nordeste, o São João se enraizou como festa central do calendário popular. Celebrava-se a fartura do milho, o início das chuvas, a colheita, o santo, a fogueira, a vizinhança… Tudo junto, tudo ao mesmo tempo, sem culpa de sincretismo.
Para nós, que estávamos aqui desde Tordesilhas, e posso dizer com alguma autoridade de quem vem de família (quase) quatrocentona, com português resgatado por indígenas e casando com uma filha da terra, quase um romance indianista: São João sempre foi a maior celebração. Enquanto o Natal era missa do galo e almoço do dia 25, enquanto a Semana Santa era silêncio e penitência, o São João era luz, som, cheiro, dança, encontro. Era o tempo da celebração comunitária, da fé católica misturada ao encantamento pagão, do milho assado na brasa, das noites quentes acesas por fogueiras.

São João é uma festa de resistência cultural. É a celebração de uma identidade que se recusa a ser folclorizada. A tentativa do Sudeste de domesticar esse ritual, transformando-o numa encenação folclórica, é parte de um movimento histórico maior: o da centralização da cultura brasileira em torno de um eixo urbano, industrial, embranquecido e frequentemente desmemoriado. Tudo que escapa a essa narrativa é posto à margem: ou como exótico, ou como engraçado, ou como ultrapassado.
E o caipira de Mazzaropi entra aí. Não se trata de desmerecer a figura que ele representou, mas de entender o que ela simbolizou. Nos filmes, o caipira era ao mesmo tempo bobo e astuto, ingênuo e espirituoso, pobre mas feliz. Era uma figura que servia para aliviar a culpa da cidade que destruía o campo, rindo dele enquanto se afastava. Esse caipira virou uniforme. E virou tema. E virou “festa junina”.
“Junina” é a forma genérica e sanitizada de empacotar uma celebração que, para nós, tem nome e sobrenome, tem santo padroeiro, tem hino e tem data exata. É João, é Pedro, é Antônio. É o mês inteiro com seu ritmo próprio. Aqui, não se “vai para a festa junina” como quem vai a um baile temático. Aqui, se vive o São João. Ele atravessa a rotina, transforma o comércio, pauta a programação das televisões, aquece a economia, movimenta as cidades, as paróquias, os bairros. Aqui, não se brinca de ser matuto. Aqui, se é.

É por isso que é tão violento quando essa cultura é apropriada sem compreensão. Quando é reduzida a sotaques forçados, dente pintado e piadas com ignorância . O São João não é uma forma de rir do interior. É o momento em que o interior se impõe com dignidade, com beleza, com riqueza simbólica que não precisa de tradução. É quando o Brasil se encontra com suas próprias entranhas.
E o Brasil urbano precisa aprender a olhar para isso não com pena ou com ironia, mas com respeito. Porque há mais sabedoria num cortejo de fogueira, numa quadrilha ensaiada por meses, numa noite de milho cozido e xote tocado ao vivo, do que em muitos dos discursos sobre “modernidade” que nos vendem por aí. O São João é mais do que uma festa: é um rito de passagem, uma afirmação coletiva de que seguimos aqui, apesar de tudo.
E seguimos. Cada vez que acendemos uma fogueira, cada vez que amarramos bandeirolas, cada vez que dançamos de mãos dadas em volta de um coreto, afirmamos que não seremos apenas lembrança ou folclore. Seremos futuro.
Porque, para nós, o São João é o que resta quando tudo mais é esquecimento.
E não há fantasia no mundo que dê conta disso.