
Por: Antônio Couras
Muito antes de o debate sobre identidade de gênero ocupar tribunais, parlamentos e redes sociais, várias sociedades ao redor do mundo já reconheciam que a experiência humana não cabia perfeitamente na divisão homem–mulher. A ideia de que só existem duas possibilidades fixas e universais é, em grande parte, fruto de um modelo europeu moderno que acabou sendo exportado para o resto do planeta através da colonização, da religião e do direito. Quando olhamos para outras culturas, percebemos que a realidade sempre foi mais diversa.
No sul do México, especialmente no estado de Oaxaca, entre o povo zapoteca da cidade de Juchitán de Zaragoza, existe há séculos a figura dos muxes. São pessoas designadas homens ao nascer que ocupam um espaço social diferente do masculino tradicional. Podem usar roupas femininas, podem desempenhar papéis associados às mulheres, mas não são simplesmente “mulheres trans” na lógica contemporânea. Antes da colonização espanhola, os zapotecas organizavam sua sociedade com base em redes familiares, comércio local e festividades comunitárias. O gênero não era tratado principalmente como questão moral, mas como parte da divisão social de funções. Os muxes participavam do comércio, do artesanato, da organização de festas e do cuidado com familiares. Eram uma categoria reconhecida dentro da comunidade.

Com a chegada dos espanhóis no século XVI, a moral católica foi imposta junto com leis que criminalizavam práticas consideradas “pecaminosas”. A sodomia passou a ser perseguida. Muitas expressões culturais indígenas foram reprimidas. Ainda assim, a tradição muxe não desapareceu. Ela sobreviveu, em parte graças à forte identidade zapoteca e ao relativo isolamento cultural da região. Hoje, os muxes continuam presentes na vida cultural de Oaxaca, organizando festas tradicionais conhecidas como “velas” e participando da economia local. Ao mesmo tempo, enfrentam preconceito, sobretudo fora dos contextos mais tradicionais. Alguns se identificam com categorias globais como “trans”, outros se entendem apenas como muxes. O que importa é que essa identidade não nasceu de teorias modernas, mas de uma estrutura social antiga.
Na Índia e em outras regiões do sul da Ásia, as hijras formam outro exemplo importante. Existem registros históricos dessas comunidades há séculos, inclusive durante o período do Império Mongol. Tradicionalmente, as hijras estavam ligadas a rituais de casamento e nascimento, sendo vistas como portadoras de um poder espiritual ambíguo relacionado à fertilidade. Muitas viviam em comunidades próprias, organizadas sob liderança de uma guru, com rituais de iniciação e regras internas. Não eram simplesmente indivíduos isolados, mas parte de uma estrutura social reconhecida.
A grande ruptura ocorreu durante o domínio britânico no século XIX. A moral vitoriana via qualquer identidade fora do binário como degeneração. O governo colonial classificou hijras como “tribos criminosas”, submetendo-as à vigilância e à repressão policial. O que antes era tradição passou a ser tratado como ameaça social. Hoje, a Índia reconhece oficialmente o “terceiro gênero” na legislação, o que representa um avanço jurídico significativo. No entanto, muitas hijras continuam vivendo em situação de vulnerabilidade econômica e social. Sua identidade não se resume à orientação sexual. Ela envolve pertencimento comunitário, tradição religiosa e história.

Entre povos indígenas dos Estados Unidos e do Canadá, muitas nações reconheciam múltiplas categorias de gênero antes da colonização europeia. Pessoas que combinavam papéis considerados masculinos e femininos podiam exercer funções espirituais, artísticas ou diplomáticas. A diferença não era necessariamente vista como problema moral. Era parte da cosmologia e da organização social. A colonização trouxe missionários cristãos e políticas de assimilação que reprimiram essas práticas. Internatos indígenas proibiam costumes tradicionais, e muitas dessas identidades foram silenciadas ou desapareceram.
Na década de 1990, o termo “Two-Spirit” foi adotado por indígenas norte-americanos como forma de recuperar essa herança cultural. Não se trata apenas de uma categoria de gênero. É também um gesto político de afirmação cultural após séculos de repressão. Ao reivindicar Two-Spirit, muitos indígenas reivindicam simultaneamente identidade de gênero e soberania cultural.
Nas ilhas Samoa, no Pacífico, existe a categoria fa’afafine. São pessoas designadas homens ao nascer que assumem papéis tradicionalmente femininos dentro da estrutura familiar. Antes da forte influência missionária cristã, a sociedade samoana organizava o trabalho e as responsabilidades familiares de forma flexível. Se uma família precisava de apoio em tarefas específicas, era possível que um filho assumisse esse papel socialmente reconhecido.

Não era visto como falha biológica, mas como parte da organização social. Com a chegada de missionários cristãos, houve maior rigidez moral, mas a categoria não foi eliminada. Hoje, fa’afafine continuam amplamente integradas à vida social e familiar, embora enfrentem tensões quando discursos religiosos mais conservadores ganham espaço.
O que todos esses exemplos mostram é que a diversidade de gênero não é uma invenção recente. O que mudou ao longo do tempo foi a forma como os Estados e as religiões passaram a classificar e regular essa diversidade. A modernidade europeia consolidou uma visão que tratava diferenças como pecado, doença ou crime. Essa visão foi exportada para outras partes do mundo durante a colonização.
Ao mesmo tempo, é importante evitar romantizações. Nenhuma dessas sociedades era uma utopia perfeita de inclusão. Muitas vezes, essas identidades estavam inseridas em papéis sociais específicos e não significavam liberdade individual irrestrita. A diferença era integrada, mas também estruturada.
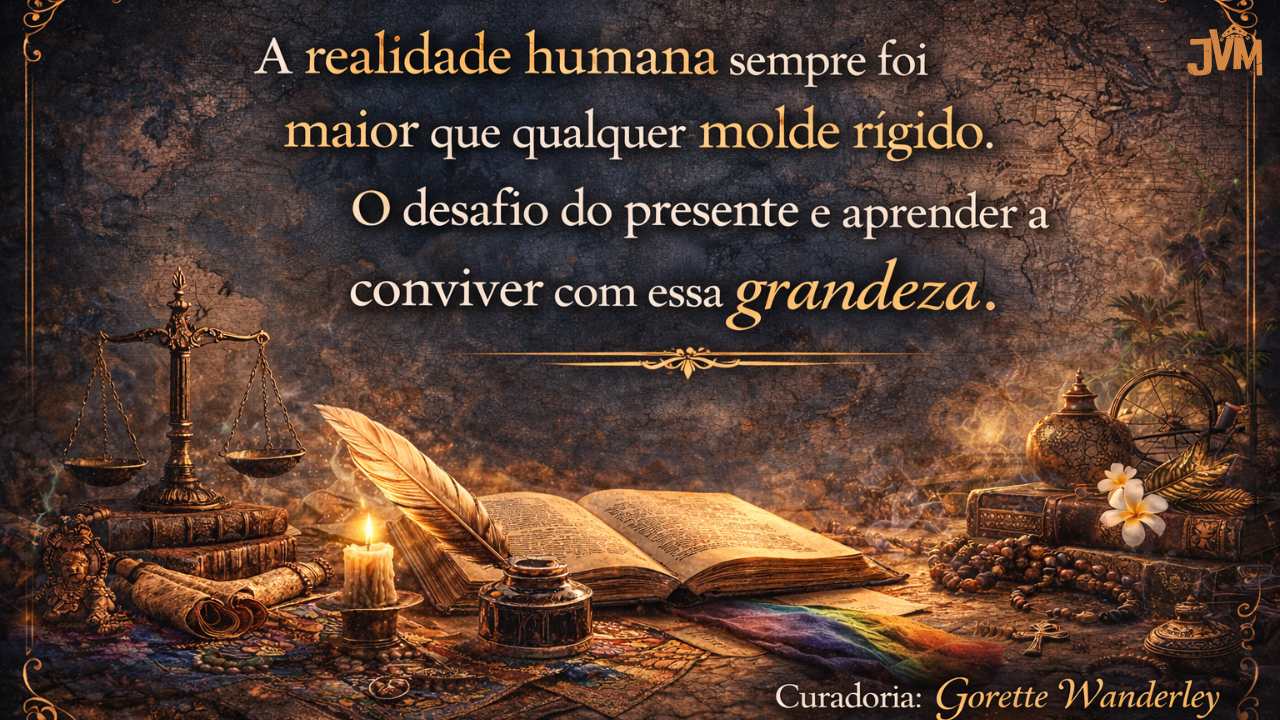
Hoje, o debate ocorre dentro do Estado moderno, que precisa registrar, legislar e organizar políticas públicas. Documentos oficiais exigem categorias. Leis precisam definir critérios. A discussão deixou de ser apenas cultural e passou a ser jurídica e política. O passado não resolve automaticamente os dilemas do presente, mas ele desmonta a ideia de que estamos diante de algo completamente novo.
A história mostra que a experiência humana sempre foi mais ampla do que o modelo binário rígido sugere. O que estamos discutindo hoje não é a existência da diversidade, mas como as sociedades modernas devem lidar com ela. Reconhecer que múltiplas culturas já encontraram formas próprias de organizar essa diferença é o primeiro passo para um debate mais honesto e menos simplificado.
A realidade humana nunca coube perfeitamente em duas caixas. E talvez a maturidade política comece quando aceitamos essa complexidade, em vez de tentar apagá-la.






