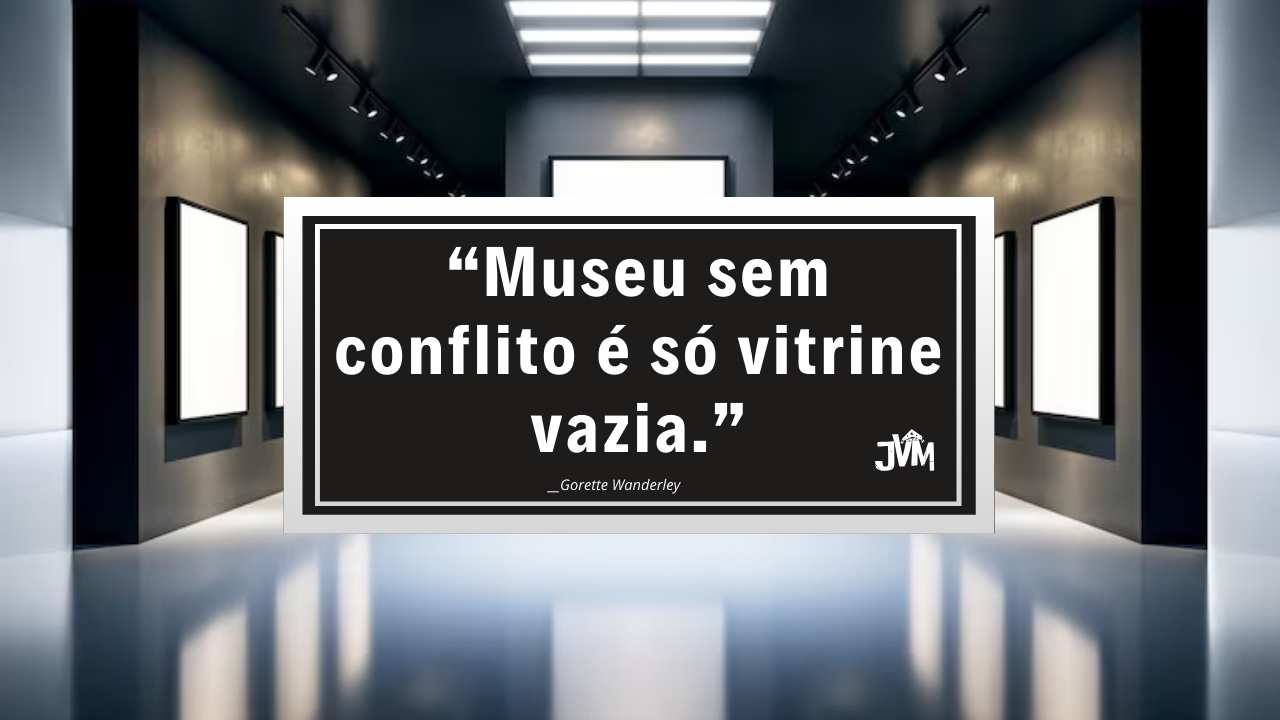
Por: Antonio Henrique Couras;
O governo federal dos Estados Unidos resolveu intervir nos museus nacionais. A ordem era clara: tudo o que pudesse ser considerado “woke” deveria ser retirado das prateleiras, das vitrines, das exposições. O que não coubesse na moldura da “grandeza americana” seria varrido como pó inconveniente. Entre as medidas mais comentadas, apareceu o caso quase anedótico de uma foto do Enola Gay, o bombardeiro que lançou a bomba atômica sobre Hiroshima. O avião tem esse nome porque o comandante Paul Tibbets quis homenagear sua mãe, Enola Gay Tibbets. “Gay”, aí, não é bandeira política, é sobrenome comum. Mas ainda assim a imagem foi sinalizada para remoção, porque, aparentemente, a simples presença da palavra acendia alarmes no sistema de caça-fantasmas ideológicos do governo.
Confesso que fiquei entre o riso e o espanto. Riso, porque há algo de tragicômico em um país que tenta apagar de seus arquivos uma palavra que sempre esteve lá, sem nem perceber o ridículo da cena. Espanto, porque por trás da anedota mora um gesto que já vimos antes: o gesto de amputar a memória.
O fascismo, quando quer crescer, não começa sempre com tanques nas ruas. Às vezes, começa com silêncio nos museus. Com a ideia de que é possível selecionar quais lembranças são dignas e quais devem ser escondidas. Que a história é uma vitrine, e basta trocar as plaquinhas para que as rachaduras desapareçam.

Mas história não é vitrine. História é cicatriz. Pode ser embelezada, interpretada, estudada com rigor e até mesmo celebrada em suas grandezas. Mas não pode ser arrancada sem deixar ferida aberta. Quando um governo exige que se retirem exposições sobre racismo, escravidão ou minorias porque são “divisivas”, o que está fazendo é impor a unidade pelo apagamento, e esse é o terreno fértil do autoritarismo.
O caso do Smithsonian é exemplar. O maior complexo de museus do mundo, dedicado a preservar desde ossos de dinossauros até documentos da independência, recebeu a ordem de “revisar” todo seu acervo à luz de uma nova lei que proíbe “narrativas divisivas” e “ideologia woke”. Na prática, isso significa reescrever a história para que caiba dentro de uma moldura patriótica pré-determinada.
É como se o passado fosse um boneco de vitrine que pode ser trocado de roupa ao sabor das conveniências políticas. “Mostrem a glória, escondam a vergonha.” Ora, mas o que seria de um povo que só cultiva glórias? Sem a memória de seus erros, ele se condena a repeti-los.
E volto ao avião de Hiroshima. O Enola Gay carrega em si um dos episódios mais brutais da história humana: o primeiro ataque nuclear. Não há como falar de Hiroshima sem falar do horror, sem falar das consequências, sem falar do silêncio radioativo que se espalhou depois da explosão. E, no entanto, a tentativa de apagar uma simples foto por causa da palavra “gay” revela o quanto a obsessão com a pureza ideológica pode ser cega. Não é apenas a memória da bomba que se tenta evitar, é também a presença incômoda de uma palavra que, nos tempos atuais, se associa a identidades que certos setores querem varrer para debaixo do tapete.

É nesse detalhe aparentemente banal que se vê a lógica fascista: um regime que teme palavras é um regime que teme pessoas.
Os fascismos sempre tiveram uma relação obsessiva com a cultura. Mussolini domesticava artistas para que pintassem a pátria em cores heroicas. Hitler queimava livros que não correspondiam ao “espírito alemão”. Franco censurava até as canções populares que destoassem da moral oficial. No Brasil dos anos 1970, letras de música precisavam passar pelo crivo da censura militar. E veja como o mecanismo é parecido: lá, como cá, a justificativa era proteger a “ordem”, a “família”, a “nação”.
Chico Buarque teve músicas vetadas porque falavam de liberdade. Caetano Veloso e Gilberto Gil foram exilados. Até letras aparentemente inofensivas foram perseguidas. Era a mesma lógica que hoje reaparece com outro nome: o medo de que a arte e a memória acordem quem deveria permanecer dormindo.
No Brasil, aprendemos tarde que o silêncio também é uma forma de violência. Por isso, quando vejo o governo americano exigindo que museus retirem exposições sobre escravidão ou racismo, lembro imediatamente de como tentaram nos convencer de que a ditadura foi “branda”, que “não matou tanto assim”, que “houve excessos dos dois lados”. É a mesma operação: maquiar a história para transformá-la em álbum de família.
Mas álbum de família não é história. É recorte. A verdadeira história precisa incluir os desaparecidos, os torturados, os marginalizados, os que não tiveram direito à fotografia oficial.

Imagino um museu daqui a algumas décadas, se essas políticas vingarem. As salas estariam repletas de bandeiras, retratos de líderes, maquetes de batalhas e discursos inflamados. Mas onde estariam os escravizados? Onde estariam os indígenas expulsos? Onde estariam as mulheres que lutaram por direitos, os trabalhadores que reivindicaram dignidade, os imigrantes que construíram cidades inteiras? Não estariam. E o visitante, caminhando por corredores tão impecáveis quanto falsos, teria a ilusão de que o passado foi um desfile sem conflito.
Esse museu vazio é o museu que o fascismo sonha.
Dizem que a palavra “woke” virou xingamento. Originalmente significava estar acordado para as injustiças. Hoje, é usada como caricatura para ridicularizar qualquer esforço de diversidade ou crítica social. Ao banir o “woke” dos museus, o governo não está apenas discutindo semântica: está mandando a mensagem de que estar acordado é perigoso, que é mais seguro permanecer dormindo. Fascismo é isso: impor o sono como política de Estado.
Volto ao caso do Enola Gay. A simples possibilidade de censurar uma foto porque o avião se chamava assim é quase alegoria. Um governo que tenta apagar até mesmo um sobrenome comum em nome da “sanidade histórica” mostra o quanto o autoritarismo pode ser frágil. Ele não aguenta sequer três letras que lembram um mundo que não controla. É nessa fragilidade que mora sua violência.
Porque regimes fascistas sabem, no fundo, que as palavras são mais fortes do que eles. Um poema atravessa gerações; uma canção sobrevive à censura; um pronome resiste por séculos, como vimos no caso de Heliogábalo. A história não se deixa aprisionar em vitrines.
Talvez a verdadeira função de um museu seja justamente essa: lembrar que não há memória sem incômodo. Que os horrores, assim como as conquistas, também fazem parte da identidade de um povo. Que esconder as sombras não produz luz, apenas cega os olhos.
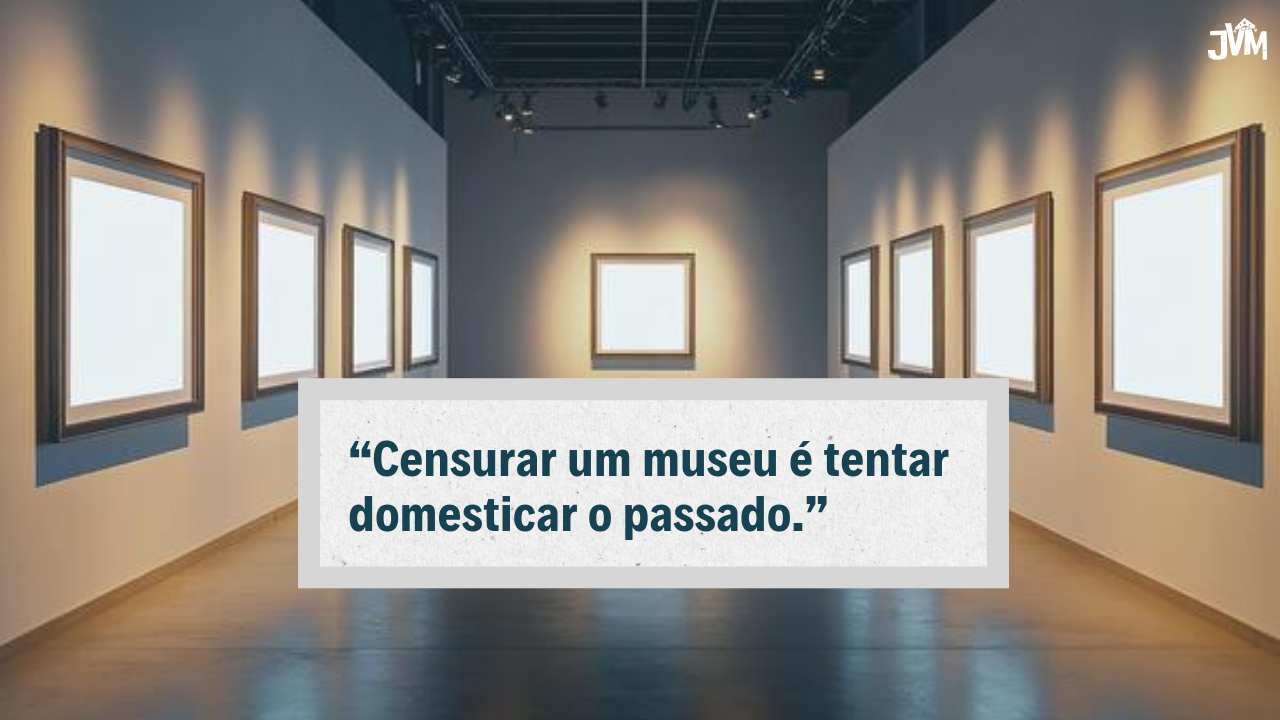
Por isso, quando vejo notícias como essa, não consigo deixar de pensar que o fascismo do século XXI não precisa usar camisas negras nem erguer estandartes militares. Basta controlar as plaquinhas dos museus. Basta decidir quais fotos ficam e quais palavras devem sumir. É o mesmo gesto, com outra roupagem: um gesto de poder que tenta domesticar o passado para moldar o presente.
No Brasil, depois de anos de censura, aprendemos a desconfiar das prateleiras limpas demais. Se não há conflito, se não há dor, se não há contradição, então não há história. A memória que vale é a memória que incomoda, que provoca, que exige reflexão. Quando um governo decide higienizar seus museus, está, na verdade, pedindo que esqueçamos quem fomos. E um povo que esquece quem foi perde a bússola de quem pode ser.
Um país que proíbe palavras é um país que já não confia em si mesmo. O perigo não está em uma foto com a palavra “gay” ou em uma exposição sobre escravidão. O perigo está em acreditar que a grandeza só existe quando se apagam as feridas. Isso não é grandeza: é medo. E o medo é sempre o primeiro alimento do fascismo.






