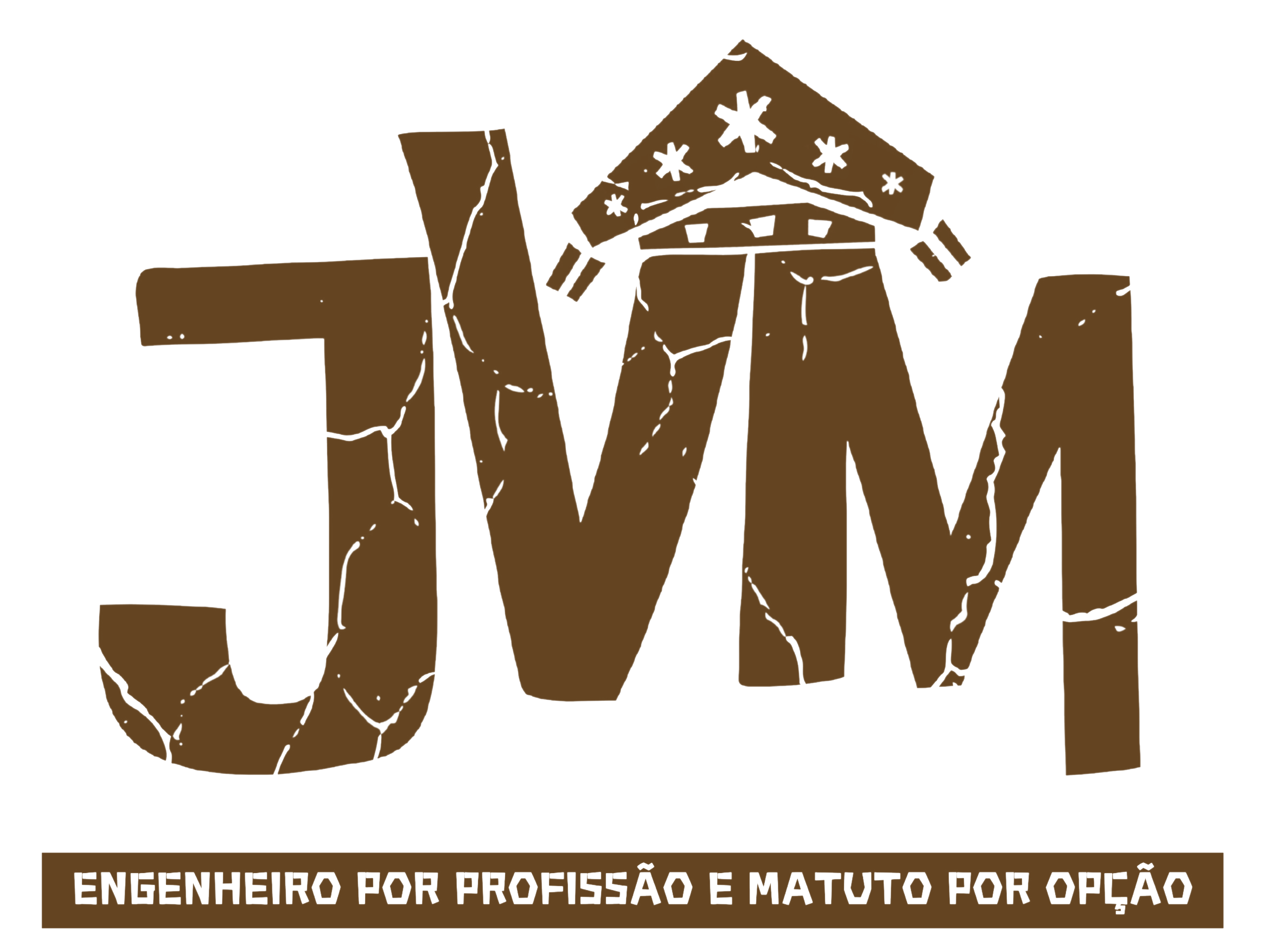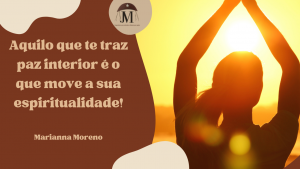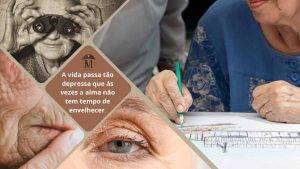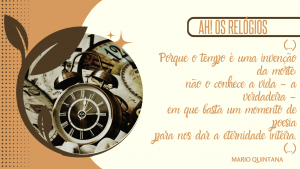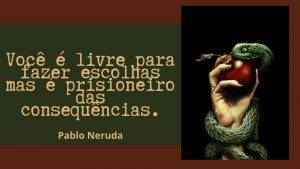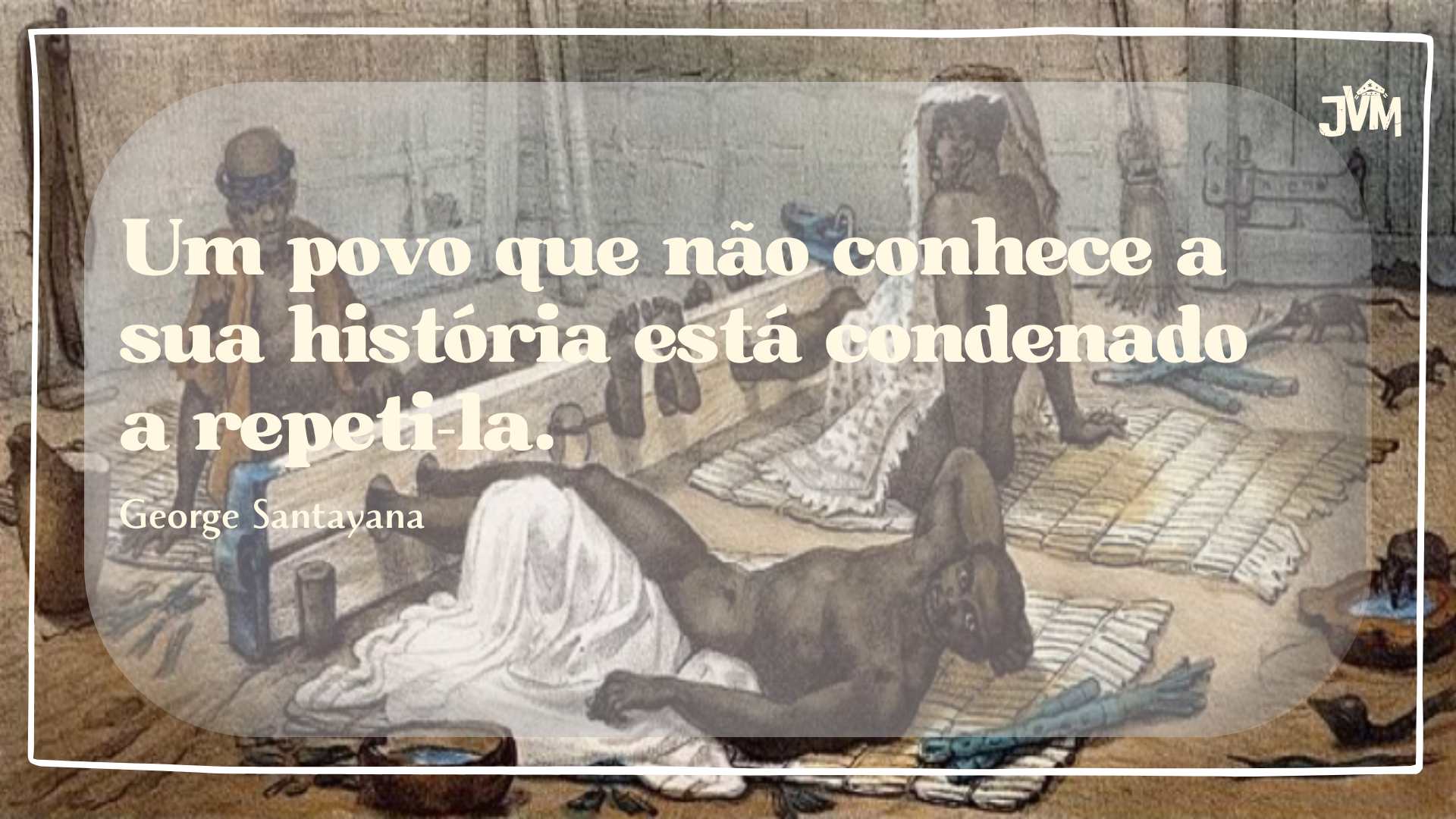
Por: Antonio Henrique Couras;
Outro dia, ao ler a respeito do incêndio que destruiu por completo a Nottoway Plantation House, na Louisiana, senti uma mistura de espanto e silêncio. Espanto diante das chamas que consumiram a maior mansão do período anterior à Guerra Civil Americana, um colosso de 64 cômodos, colunas brancas e chão de mármore que por mais de um século sustentou o orgulho de uma arquitetura esculpida sobre os ombros de centenas de pessoas escravizadas. Diante da ruína, era como se a história gritasse o que muitos ainda se recusam a ouvir.
A Nottoway não era só uma mansão; era um monumento ao esquecimento seletivo. Erguida em 1859, construída pelas mãos de mais de 150 pessoas sequestradas da África e forçadas à servidão, ela sobreviveu ao tempo como um destino turístico de luxo, com suítes “coloniais” e casamentos sob os carvalhos centenários, mas sem jamais narrar, em sua grandiosidade, o que realmente significava viver ali, acorrentado. Por fora, vendia-se charme. Por dentro, escondia-se a dor.
E é impossível, diante de tal cena, não voltar os olhos ao Brasil. Aqui, onde a escravidão durou mais do que em qualquer outro país do Ocidente. Aqui, onde mais de 4,8 milhões de africanos escravizados desembarcaram. Aqui, onde o fim formal da escravidão em 1888 não representou qualquer reparação concreta à população negra. Aqui, onde o silêncio diante dessas fazendas é ainda mais profundo, e talvez mais perverso.
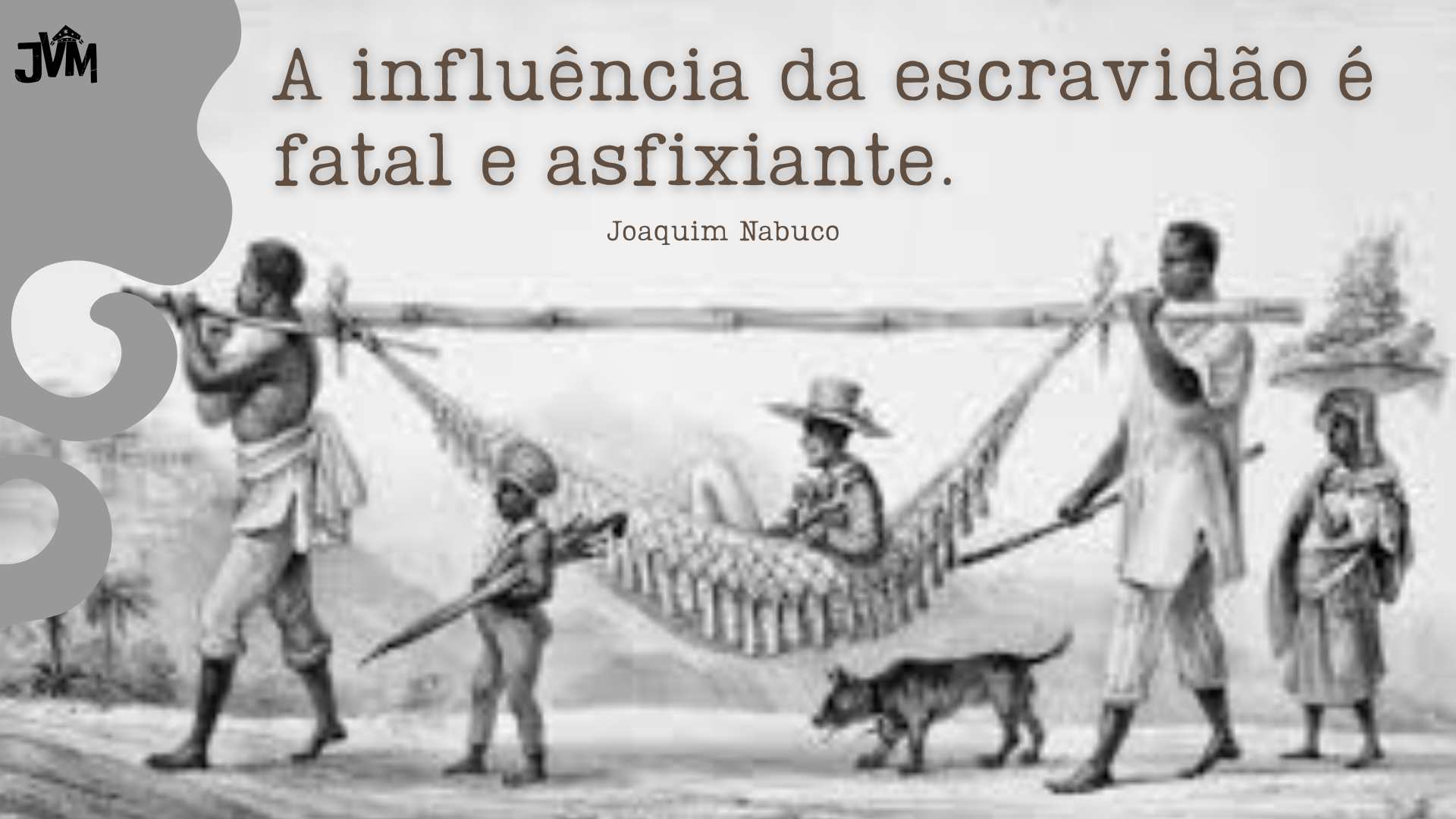
No interior do Brasil, casarões coloniais seguem imponentes, com seus alpendres largos, janelas de madeira trabalhada e senzalas escondidas ao fundo, como cicatrizes que o tempo e o turismo insistem em maquiar. Ou pior, quando as senzalas são convertidas em espaços de jogos, spas ou lojinhas de souvenires. Muitas dessas fazendas hoje funcionam como pousadas charmosas, espaços para casamentos, eventos de luxo ou turismo rural. Anunciam-se como “refúgios no tempo”, “joias do passado”, mas omitem que esse passado foi regado a sangue.
Não são apenas propriedades antigas. São campos de horror. Nelas, homens, mulheres e crianças foram torturados, estuprados, chicoteados, forçados a trabalhar até a exaustão. Famílias inteiras foram separadas, culturas apagadas, línguas silenciadas. Durante séculos, foi ali que a base econômica e social do país se construiu à custa da dignidade humana. E hoje, essas estruturas são admiradas sem qualquer menção aos gritos que ecoaram entre seus muros.
Há um apagamento ativo em curso. A romantização dessas propriedades é apenas uma das muitas formas pelas quais o Brasil recusa-se a olhar de frente para sua história. A arquitetura, por mais bela que seja, foi moldada com dor. A elegância das colunas não pode, jamais, justificar o silenciamento de tantas vozes. E ainda assim, não faltam editoriais exaltando o estilo “colonial” dessas casas, como se elas tivessem surgido por obra do acaso, ou fruto de um tempo inocente. Em Portugal, nosso estilo “colonial” se chama apenas “setecentista”, uma referência ao século 17 quando era moda.
Imagine, por um segundo, se na Alemanha decidissem transformar Auschwitz em um resort temático, mantendo as linhas arquitetônicas do campo, oferecendo quartos com nomes como “Ala SS” ou “Suíte Câmara de Gás”. Seria impensável. E por quê? Porque lá a memória da barbárie foi preservada com o respeito e o horror que ela exige. Lá, não se celebra o passado nazista, se denuncia. Aqui, no entanto, mantemos o passado escravocrata como cenário de Instagram.

Essa escolha não é inocente. A ausência de reparação, a falta de museus dedicados à memória da escravidão, o uso indevido desses espaços, tudo isso reforça uma estrutura de poder que insiste em manter a população negra na margem. Quantas dessas fazendas contam com placas informativas sobre a senzala? Quantas possuem acervos com objetos do cotidiano dos escravizados? Quantas trazem, em suas visitas guiadas, o relato da violência diária imposta a esses corpos?
A escravidão no Brasil não é apenas um capítulo da história. É a base sobre a qual o país foi erguido, estruturando desigualdades que persistem até hoje. Mais de 50% da população brasileira é negra. E, ainda assim, essa maioria raramente é ouvida, lembrada, incluída nas decisões sobre o que deve ou não ser preservado. A elite branca, muitas vezes descendente direta de senhores de escravos, segue decidindo os rumos da memória nacional.
Quando uma fazenda colonial é convertida em hotel de luxo, não é só uma escolha de uso do espaço. É uma decisão política. É dizer que o sofrimento de milhões pode ser enterrado sob uma colcha de algodão egípcio. É dizer que o lucro pode, como sempre, ser extraído do corpo negro, agora pela omissão de sua história. É transformar trauma em atração turística. E isso, por si só, é uma forma de violência continuada.
Em vez disso, essas fazendas deveriam ser convertidas em museus da escravidão. Espaços vivos de educação, denúncia e memória. Locais onde crianças pudessem aprender sobre a resistência de Zumbi, de Dandara, dos quilombos. Onde se pudesse ouvir, com o devido respeito, o som do açoite e a força do canto negro em lamento e luta. Onde as lágrimas não fossem varridas da história, mas integradas a ela como partes incontornáveis do que somos.
Precisamos parar de proteger a estética da violência. Parar de achar bonito o que foi construído com dor. A beleza dessas propriedades, se é que existe, não pode ser dissociada de sua origem. Não há arquitetura suficientemente bela que justifique o apagamento de um genocídio. Preservar o estilo colonial sem preservar a história que ele carrega é, no mínimo, um ato de covardia.
E mais do que isso: é perpetuar o racismo estrutural que ainda hoje impede que pretos e pretas ocupem os espaços que lhes foram historicamente negados. Quando romantizamos o passado escravocrata, reforçamos a ideia de que ele foi necessário, inevitável, até mesmo belo. Mas não foi. Foi brutal, desumano, criminoso.
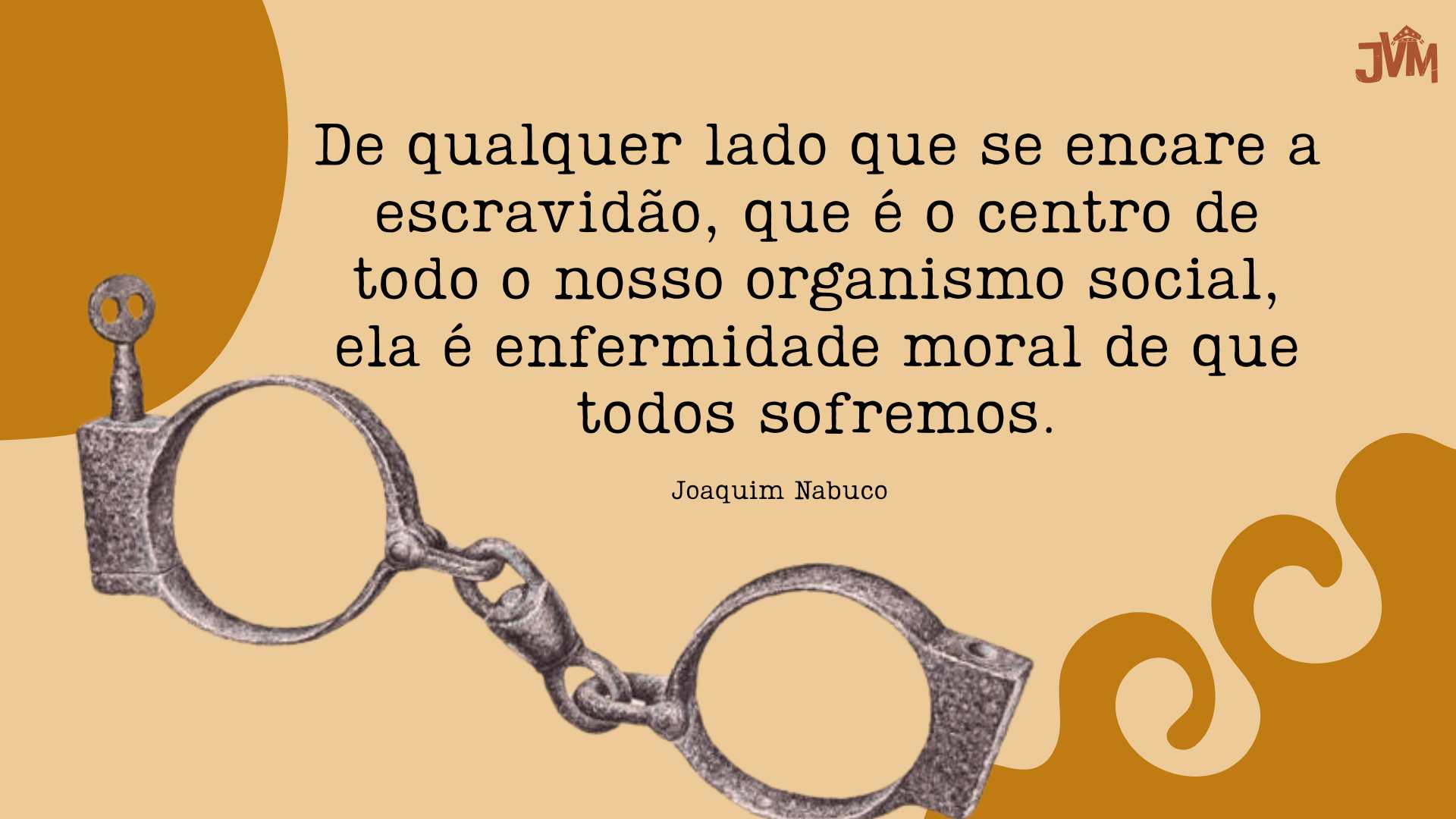
Ao ver a Nottoway Plantation em chamas, não senti alívio, mas senti que talvez, diante das cinzas, houvesse a chance de reconstruir outra narrativa. Que as ruínas sirvam não para reerguer mais um hotel boutique, mas para erguer um memorial à dor, ao absurdo, à resistência. Que não se apaguem as cinzas com perfume. Que não se pinte de branco a violência negra.
E que, aqui no Brasil, não precisemos esperar o fogo para rever nossas escolhas. Que possamos, em vida, transformar as fazendas do passado em lições para o presente. Que as paredes que um dia confinaram tantos corpos, hoje abriguem a verdade. E que a história não seja mais contada em silêncio, mas em alto e bom som, por quem sempre teve sua voz calada.
O Brasil precisa olhar para trás com coragem. Não para admirar o que foi construído, mas para reconhecer o que foi destruído: vidas, famílias, culturas. Só assim poderemos construir um futuro que não seja apenas uma repetição mais polida das injustiças de ontem.
Memória é resistência. E resistir é não permitir que a dor vire cenário. Que a injustiça vire encanto. Que a escravidão vire marketing.
Ainda há tempo. Ainda há escolha. Ainda há história para ser contada — com verdade, com respeito, com justiça.
E que cada fazenda restaurada se transforme num espaço de restituição simbólica. Que as senzalas sejam abertas, não escondidas. Que se dê nome às vítimas. Que se exponham os métodos de opressão. Que se repense o papel da elite branca na perpetuação desse imaginário.
Transformar dor em história é um ato de coragem. Silenciar a dor é um ato de covardia. Que sejamos, enquanto sociedade, corajosos o suficiente para escutar, reconhecer, aprender e transformar.