
Por: Antonio Henrique Couras;
Nos últimos dias, uma leva de imagens geradas por inteligência artificial no estilo do Studio Ghibli inundou as redes sociais como uma onda de poeira mágica e silício. Bosques oníricos, espíritos flutuantes, crianças de olhos grandes e expressivos cruzando paisagens de beleza melancólica—tudo com aquele toque de nostalgia e encantamento que consagrou o estúdio japonês como um farol da animação mundial. Só que, dessa vez, não havia um Hayao Miyazaki por trás do traço. Era código. Era algoritmo.
A reação não demorou. Um pronunciamento firme do próprio Miyazaki circulou em portais e perfis: “Uma abominação.” Essa foi a palavra usada. Para o criador de obras como A Viagem de Chihiro e Meu Amigo Totoro, a criação automática de imagens em seu estilo era uma profanação, um simulacro vazio, uma zombaria daquilo que exige tempo, alma e imperfeição humana. E muitos aplaudiram—afinal, a arte, dizem, deve ser humana ou não será nada.
Mas… será mesmo?
O que é arte? Vamos voltar um pouco. No início, havia as mãos sujas de fuligem deixando traços em cavernas, bisões e mãos sopradas como assinaturas de fumaça. Depois, mármore moldado em homens-deuses, tintas esmagadas com óleo para retratar santos e tempestades. Mais tarde, o som foi capturado em tubos, a luz em placas de prata, o movimento em celuloide. E a cada nova ferramenta, alguém gritou: “Isso não é arte!”
A câmera fotográfica tirou do pintor o monopólio da imagem realista. A música eletrônica dispensou o violinista. O computador, com seu brilho de tela fria, passou a compor sinfonias, escrever poemas, projetar roupas, criar edifícios. E agora, com a inteligência artificial, temos um novo vilão: um “artista” que não dorme, não come, não sofre—e ainda assim cria.
Mas o que define a arte não é a ferramenta. É o gesto. A intenção. A comunicação.
A arte não é sobre a mão que esculpe, mas sobre o coração que pulsa atrás do gesto. Uma imagem gerada por IA pode sim ser vazia, apática, insípida—mas também pode ser uma ponte. Uma provocação. Um espelho.

O problema não está na IA. Está na nossa insistência em buscar autenticidade apenas na técnica. Como se o que tocasse a alma tivesse que vir, obrigatoriamente, da dor de um artista solitário em seu ateliê.
Veja bem: não se trata de descartar o valor do trabalho manual, da dedicação, da tradição. Nada substitui a vivência, a ruga do criador, o erro que vira estilo. Mas dizer que uma imagem criada por IA é, por definição, uma “abominação”, é recusar a dialogar com os tempos. É olhar para o pincel e não para a tela. É avaliar a arte por sua certidão de nascimento, não por sua capacidade de tocar.
Imagine alguém que nunca desenhou na vida, mas tem uma história para contar. Um trauma, um sonho, uma memória. E encontra na IA um meio para transformar isso em imagem. É arte? Se comunicar é arte, então sim.
Claro que há questões éticas. A IA não cria do zero—ela aprende com milhões de obras humanas. Muitas vezes sem crédito, sem permissão, sem respeito. O problema aqui, mais uma vez, não é a ferramenta, mas quem a utiliza. A IA é como um pincel que carrega, sem saber, as tintas de outros artistas. Cabe a nós, humanos, decidir como misturar essas cores.
Miyazaki, com toda razão, pode sentir-se invadido. Seu estilo foi diluído, reciclado, desidratado em fórmulas. Mas, ironicamente, esse incômodo é prova da potência de sua arte: ela tocou tanto, tão fundo, que mesmo os circuitos querem imitá-la. E isso também é legado. Ainda que doído.
Afinal, a arte sempre foi esse jogo entre permanência e mudança, entre reverência e transgressão. Os impressionistas foram ridicularizados. Os cubistas, acusados de destruir a forma. Os grafiteiros, de vandalizar. Até que a história os absorveu.
Estamos vivendo mais uma dessas revoluções silenciosas. A IA não vai substituir a arte humana. Mas ela pode, sim, ser usada como instrumento artístico. Como qualquer ferramenta, ela pode tanto gerar beleza quanto lixo. Depende de quem a maneja. E, talvez mais importante, por quê.
O artista do futuro talvez seja alguém que conversa com máquinas. Que edita, corrige, interfere, guia o algoritmo como quem conduz uma orquestra invisível. Ou talvez seja alguém que recusa tudo isso e volta à argila e ao carvão. Ambos serão artistas. Porque a arte é um fim, não um meio.
Ela existe para comunicar algo: medo, saudade, esperança, revolta. Se uma imagem gerada por IA consegue fazer isso com honestidade, então ela é, sim, arte. Mesmo que desconfortável. Mesmo que não assinada por uma mão suada.
Há um poema de Ferreira Gullar, que cito constantemente, que diz: “A arte existe porque a vida não basta.” É isso. A vida, sozinha, é muito pouco para conter tudo o que sentimos. Por isso inventamos formas de traduzir o invisível.
E hoje, essa tradução também pode ser feita com zeros e uns.
Miyazaki tem o direito de se revoltar. A sua obra não foi feita para ser repetida como molde. Ela nasceu do silêncio, do cansaço, do assombro. Mas também é verdade que a inspiração é uma criatura sem dono. Uma vez lançada no mundo, a arte ganha vida própria. Inspira, transforma, é reapropriada. Isso não a diminui. A engrandece.
A questão não é se a IA é arte. É se estamos prontos para aceitar que a arte não precisa mais de pincel. Só de intenção.
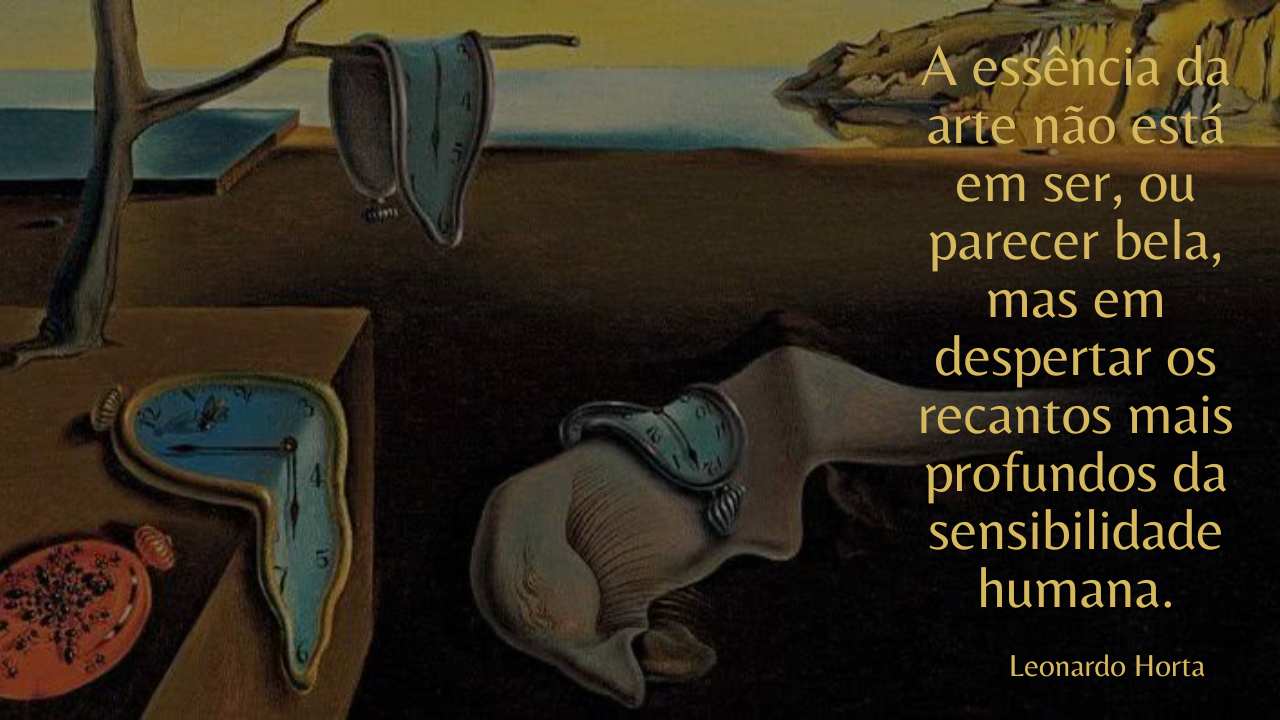
A escultura que chora, o quadro que grita, a música que abraça, o filme que arde. Nada disso depende da ferramenta. Depende da mensagem. Do gesto. Do que se quer dizer.
E se um dia uma IA conseguir, de verdade, dizer algo que nunca foi dito, tocar onde ninguém tocou, revelar um ângulo inédito do humano… então talvez nem precisemos mais chamá-la de “inteligência artificial”.
Talvez ela só seja mais uma artista. Silenciosa, sim. Mas cheia de histórias que não são dela—como todos nós.
Porque, no fundo, a arte é isso: um eco que atravessa tempos, técnicas e tecnologias, para lembrar que ainda estamos vivos. E tentando dizer alguma coisa.






