
Por: Antonio Henrique Couras;
Outro dia, enquanto ouvia um podcast que trazia a entrevista de um jovem brasileiro traficado no sudeste asiático e usado como mão de obra escrava em uma “fábrica de golpes” gerida pela máfia chinesa. O jovem contava como, mesmo já acostumado a trabalhar em cassinos, hostels etc. na região, recebeu uma oferta de trabalhar em uma empresa. O salário, ao contrário do que possa imaginar, não era extraordinário, a única coisa fora do comum era uma oferta de visto de trabalho, item difícil de se conseguir na Tailândia.
Mas até então nada de muito estranho. O inferno começou quando o transporte do ovem chegou. Inicialmente um carro com um motorista amigável, depois uma troca de carro com um motorista mais austero, mais duas trocas de carro e, por fim a chegada em um ermo, uma travessia de barco feita sob a mira de armas, e a chegada a um complexo de prédios onde funcionam incontáveis empresas.
Ali, nada fora do extraordinário, fileiras e mais fileiras de computadores, pessoas de diversas nacionalidades trabalhando, um mercadinho, alojamentos… Até que há o confisco de passaporte e telefone. Já na chegada o jovem é agredido com armas de choque. E dali em diante começava seu martírio. 16h de trabalho por dia, pausas de 30min para as refeições e a ameaça de ser agredido caso não atingisse as metas.
Quais as metas? Aliciar homens, principalmente a partir dos 50 anos, solitários e vulneráveis, se passando por mulheres atraentes e apaixonantes. Precisavam que esses homens investissem cerca de cinco mil dólares, caso não, agressões com cassetetes, choques elétricos, ficar mais de 20h seguidas em pé e tantas outras.
A tortura era aplicada por quaisquer falhas no trabalho. Tentar contato com a família ou qualquer coisa que pudesse colocar, minimamente, a operação em risco.
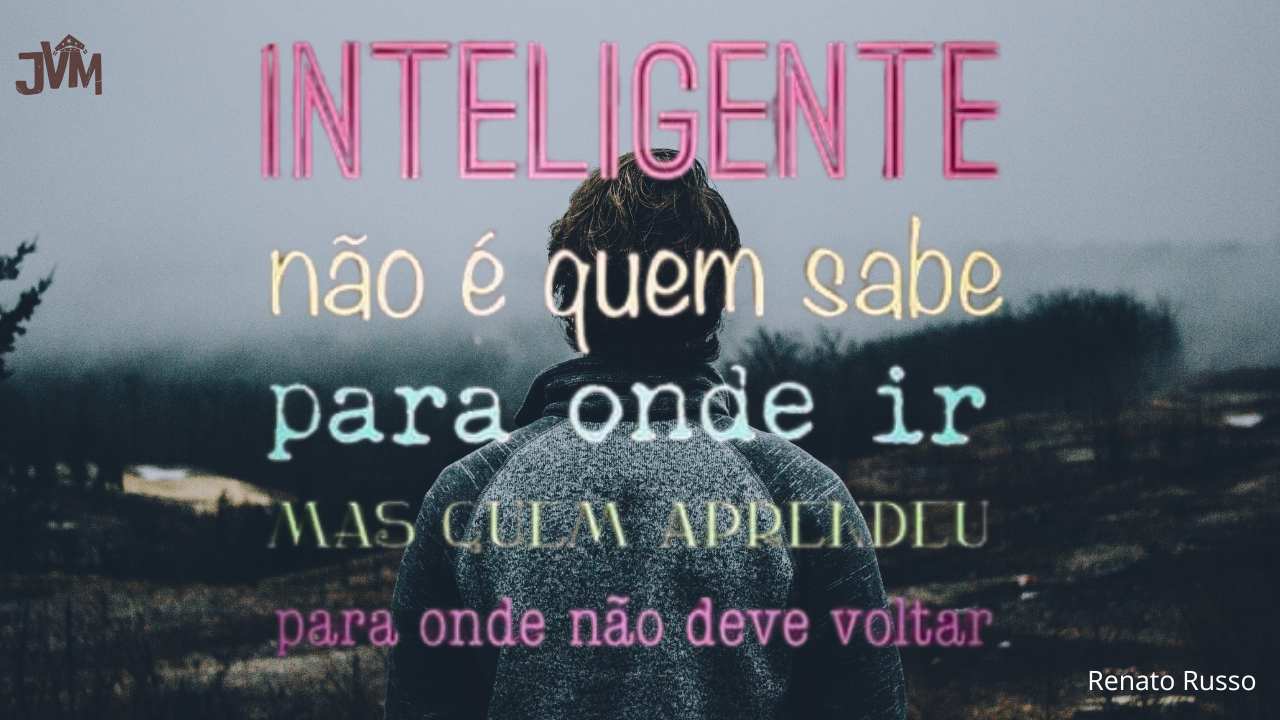
A história tem um final relativamente feliz, o jovem e mais alguns outros prisioneiros conseguem ser resgatados pela equipe de uma ong aliada ao exército. Mas a operação continua com milhares de outras pessoas.
Na segunda parte do episódio, a representante da ONG responsável pelo resgate fala, diz que o perfil das vítimas desses crimes normalmente são jovens na casa dos 20 e 30 anos, solteiros e aventureiros que querem conhecer o mundo.
Durante todo o episódio eu me vi muito semelhante ao jovem que ali falava, mas não posso dizer que me vi em sua pele. Havia algo fundamentalmente diferente entre nós: eu dificilmente poderia ser considerado corajoso. Sou, na verdade, o tipo de pessoa que pensa mil vezes antes de sair da zona de conforto, que examina o cenário por todos os ângulos, apenas para se convencer de que o perigo não vale o esforço.
Minha mãe conta uma história em que durante um comício eleitoral patrocinado pelos meus pais em apoio a um amigo seu que concorria à prefeitura, eu juntei os lençóis da casa, forrei a mesa da sala e meti-me debaixo dela me recusando sair. Apavorado com a quantidade de gente que invadia o sítio.
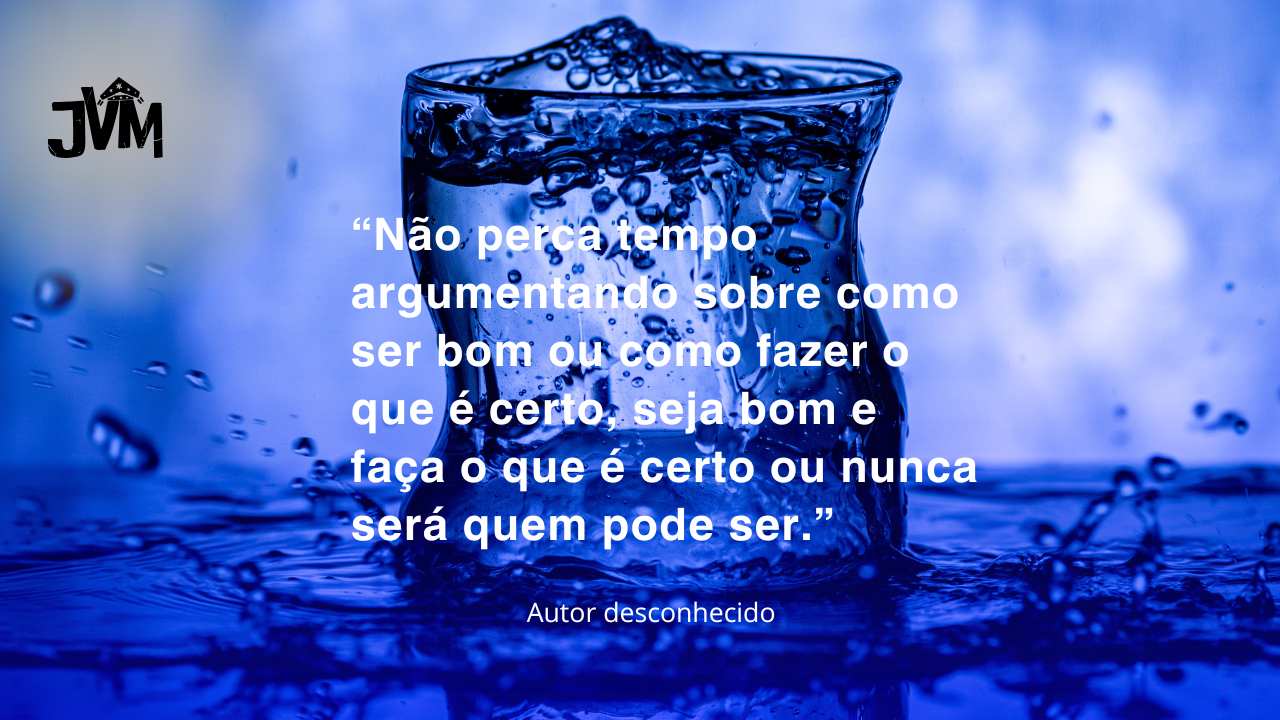
Não mudei muito de lá para cá. Multidões ainda me apavoram, música alta me da taquicardia e qualquer coisa me assusta, aborrece e incomoda. Outro dia quase fujo de uma clínica porque os outros pacientes estavam falando alto demais o que estava me deixando totalmente desconfortável.
Ao final do podcast eu estava radiante, pois percebi que ser frouxo, muitas vezes, me salvou de incontáveis saias justas. E ali estava eu, aliviado por perceber que, de algum modo, minha frouxidão havia me protegido. Era como se a cautela, que tantas vezes critiquei em mim mesmo, fosse na verdade um escudo silencioso.
Mas aí a mente resolveu fazer o que sempre faz: divagar por territórios longínquos, amarrar pensamentos desconexos e tentar entender por que eu me sentia assim. Lembrei-me, então, das histórias que aprendi sobre os povos originários brasileiros e a prática comum de casar suas filhas com homens de outras aldeias e outros povos.
Não foi diferente com os europeus que chegaram aqui. Era uma questão de estratégia, de sobrevivência, de adaptação, evitava-se a endogamia e havia sempre a possibilidade de se selar acordos de paz entre os líderes que casavam seus filhos.
Se as histórias da minha família estão certas — ou pelo menos as que foram contadas e recontadas ao longo das gerações —, eu sou descendente de uma mulher Kariri e de um português que escapou do canibalismo provavelmente porque chorou, implorou, mostrou que não era um guerreiro forte e imbatível. Que era, por assim dizer, um frouxo. Indigno, aos olhos de quem o julgava.
O estrangeiro que chegava e sobrevivia não era, geralmente, o bravo e altivo aventureiro que enfrentava tudo e todos. Esse, frequentemente, virava jantar. Era o fraco, o que chorava, o que implorava por piedade, o que mostrava vulnerabilidade, que escapava do destino trágico. Eram considerados indignos de serem devorados. Era como se a fraqueza aparente fosse uma espécie de proteção natural.
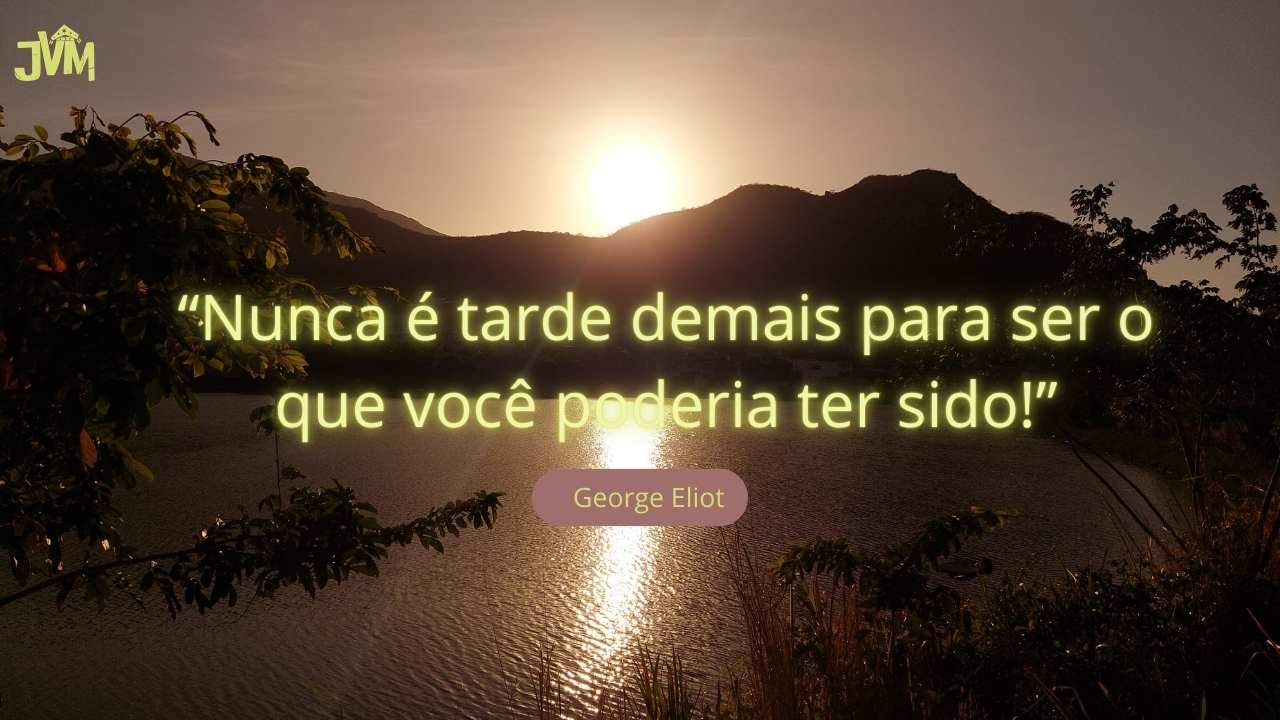
E foi assim que meus pensamentos começaram a costurar uma linha que ligava minha própria existência a essa fragilidade que me persegue. Se estou aqui hoje, com meus dedos tecendo essas palavras, é porque, em algum ponto da história, um português que deveria ter sido devorado não foi. Porque ele, naquele instante crucial, foi um frouxo. E essa frouxidão foi entendida como uma qualidade redentora.
E cá estou eu, em pleno século XXI, tentando entender essa herança curiosa. Tentando aceitar que talvez a minha covardia em muitas situações não seja só um defeito de caráter, mas uma herança de sobrevivência. Talvez o segredo para permanecer aqui, existindo, seja mesmo não encarar o mundo com uma coragem implacável, mas saber a hora certa de recuar.
Engraçado pensar que em um mundo onde todos glorificam os corajosos, os destemidos, os que nunca hesitam, sou produto de uma linhagem que sobreviveu justamente porque hesitou. Porque teve medo e demonstrou fraqueza. Porque foi frouxa.
E quanto mais eu penso nisso, mais eu vejo sentido. Talvez seja esse o equilíbrio que as pessoas tanto buscam: saber quando ser forte e quando ser frouxo. Saber quando avançar e quando recuar. Afinal, não foram os que avançaram a qualquer custo que deixaram descendentes. Foram os que souberam fugir, os que souberam reconhecer quando era hora de baixar a cabeça e implorar pela própria vida.
De algum modo, essa herança continua viva em mim. E talvez, por mais que o mundo insista em glorificar o heroísmo a qualquer custo, exista uma sabedoria profunda na arte de ser frouxo. Porque frouxo é quem sobrevive. E sobreviver, no fim das contas, é a condição primordial para qualquer outra coisa.
Enquanto o episódio do podcast chegava ao fim, eu sorria. Porque senti que talvez houvesse algo de valor nessa minha frouxidão crônica. Que, no fundo, ser frouxo não fosse uma falha a ser corrigida, mas um traço a ser respeitado. E, quem sabe, até celebrado. Ali percebi que, como os personagens de Ariano Suassuna, o frouxo, mas sabido, é que sobrevive para contar a história.






