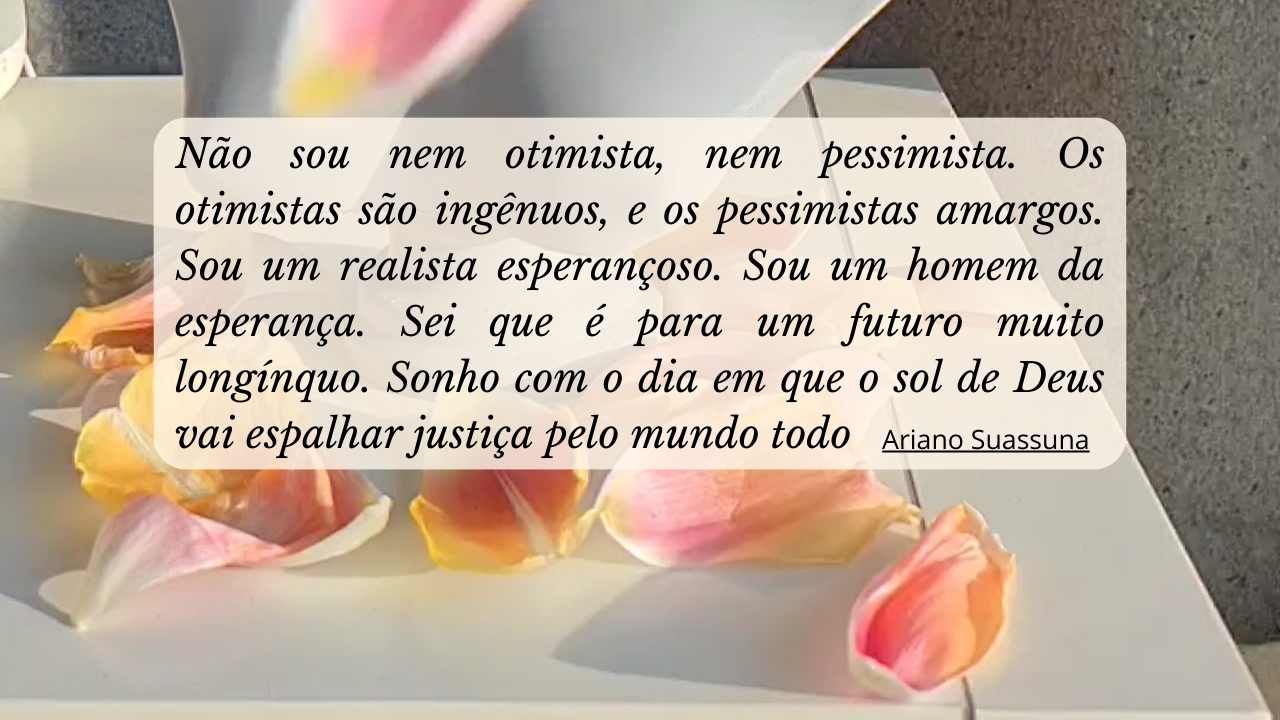
Já se passaram dois anos desde que eu comecei a escrever aqui neste espaço, mais de 80 artigos tratando dos temas mais variados, e, definitivamente, não sou a mesma pessoa que fui. Meu primeiro artigo foi escrito ainda em dezembro de 2021, no qual eu encerrava com uma pergunta que acredito jamais serei capaz de responder: quem sou eu?
Acredito que hoje, eu saiba ainda menos do que sabia então. Hoje cogito possibilidades sobre identidade de gênero, sexualidade, propósito de vida, relação com a minha família, amigos… Como disse Tancredi ao Príncipe de Salina: para que tudo continue como está, tudo precisa mudar. E é na constância da mudança que eu me apoio nesse início de mais um ano.
Quase metade da terceira década do século 21, e hoje, no dia a dia, já ouço pessoas que não mencionam mais o “dois mil” antes dos anos. Mais de um século se passou da Semana de Arte Moderna de 22. Quanto tempo levaremos para nos referirmos à “Pandemia de 20”, por exemplo? O tempo dirá.
Outro dia, ouvi dizer sobre a forma que os povos Mapuche, do norte do Chile, têm de ver o tempo. Ao contrário do que normalmente entendemos, com o passado estando atrás de nós e o futuro à nossa frente. Esse povo compreende a linha temporal de forma inversa.
Para os Mapuche, o passado está à nossa frente, pois conseguimos vê-lo perfeitamente, já o futuro, desconhecido, se esconde às nossas costas. E, em vários níveis, isso fez sentido para mim.
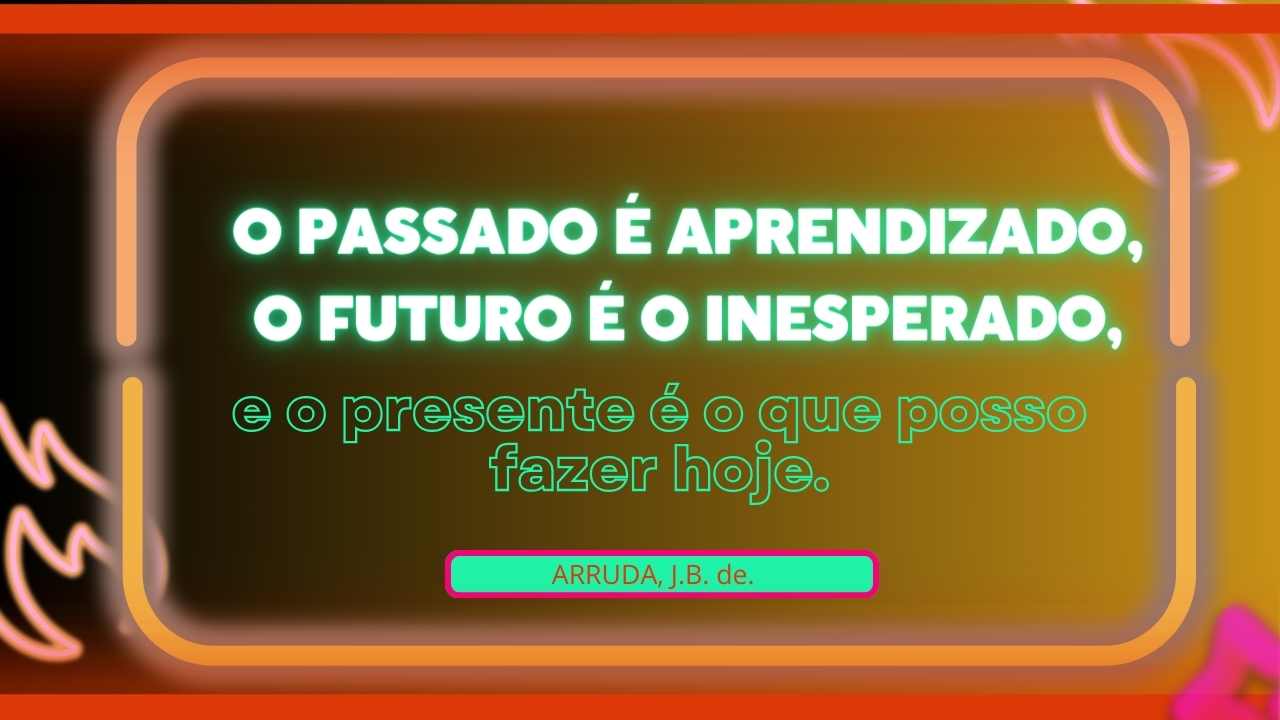
Para nós, humanos, o passado próximo reside a um palmo de nossos narizes, e conforme esse passado se distancia mais difícil fica de podermos vê-lo. Como um tecido que se esgaça corroído de traças, o tempo vai se esfarelando conforme mais longe está de nós.
Conseguimos vê-lo com alguma clareza enquanto existem registros escritos dos fatos passados, mas nos tornamos míopes para vermos o passado que não deixou marcas em pedras, argila, papiro ou velino.
Hoje vejo muitos movimentos que tentam reinterpretar esse passado mais distante de nós a partir de um novo olhar. Movimentos que tentam trazer, por exemplo ao continente africano, o centro das ações humanas em determinado período de tempo. O que me parece tão míope quanto a defesa de que a “civilização” ocidental, ou mesmo humana, surgiu na Europa. Contudo, não posso julgar quem trilha esse caminho. A descoberta do “eu”, vai muito além do indivíduo. Engloba noções de ancestralidade e pertencimento.
Um dos meus passa tempos preferidos é o estudo de Egiptologia. A ciência que estuda o Antigo Egito, desde sua origem quase imemorial, à aproximadamente 3 séculos antes de Cristo, quando se deu início à era Ptolomaica em que Alexandre da Macedônia tomou o controle da “Dádiva do Nilo”, que posteriormente passou pela mão de romanos, otomanos, etc. Nesse estudo é comum aprendermos que o Egito como conhecemos hoje, mudou drasticamente no transcorrer dos milênios, através de várias dinastias, guerras e relações com seus vizinhos.
Discute-se, na tentativa de trazer o centro da narrativa à terra de povos que nos últimos séculos vêm sendo brutalmente explorados pelo ocidente, inclusive, que o nome “Egito” é inadequado, já que esse, por milênios, se intitulava “Kemet”. Eu cá do meu lado, acredito que se formos usar esse sentido para renomearmos países estamos em maus lençóis. O que chamamos, em português, de Alemanha (terra dos Alamanos), em inglês chama-se Germany (terra dos Germanos) em Alemão chama-se Deutschland (que em alemão antigo seria algo como Terra do Povo). O mesmo se dá com Índia, Grécia… e uma infinidade de países. Apesar de eu acreditar que é fundamental darmos a devida importância à cultura e o peso que as civilizações africanas têm para a humanidade, nos limitarmos a isso é pouco demais, e mais um “fim” que um “começo”.
Durante milênios é conhecido na história o intercâmbio entre as culturas do mediterrâneo. Desde a Península Itálica até o atual Marrocos, e entre as próprias culturas do norte da África. Particularmente, eu sou apaixonado pela ideia do desenvolvimento técnico que o intercâmbio entre a cultura grega e egípcia proporcionou para que as estátuas “ganhassem vida”. Que fosse, paulatinamente se transformando de simples relevos à esculturas que nos dão a impressão de estarem vivas.
Alguns estudiosos da história da arte, na tentativa de serem mais didáticos, simplificam o processo de desenvolvimento técnico para a seguinte sequência: inicialmente pinta-se sobre a pedra, com o desenvolvimento de algumas ferramentas também era possível que fossem feitos relevos em pedra ou argila, com o tempo os relevos foram se tornando mais profundos até o momento em que se tornaram mais e mais livres de suas bases de pedra, ficando como encostados em uma parede, e, por fim que as esculturas clássicas tomassem as formas pelas quais as conhecemos hoje. Sempre importante lembrar que em nenhum momento uma nova forma ou técnica “derrotou” uma forma mais antiga. Pinturas, os relevos mais variados e esculturas sempre conviveram e tiveram suas aplicabilidades preservadas.
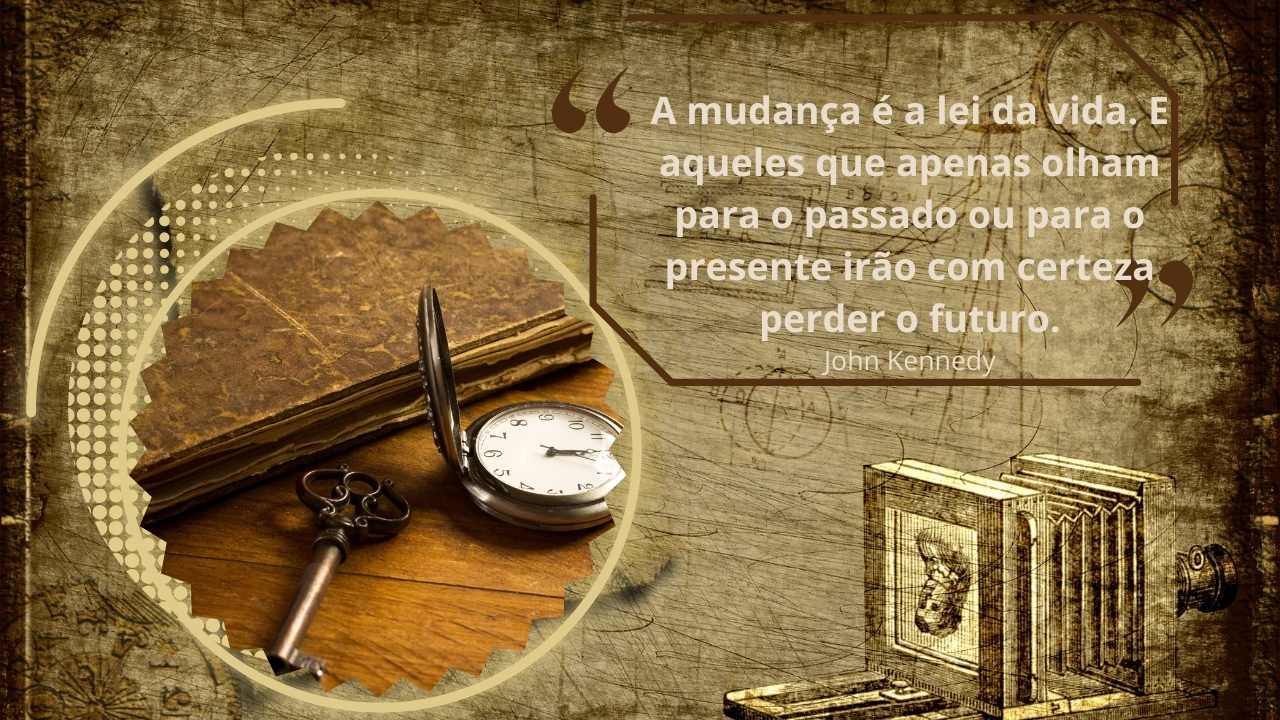
O livro “Tudo Sobre Arte”, escrito sob a edição geral de Stephen Farthing, traz em seu capítulo sobre arte grega o seguinte:
Nos séculos VII e VI a.C. a Grécia era formada por cidades-estados autônomas. O período foi marcado pela estabilidade e, pela prosperidade, pela ascensão de uma classe média e pelo surgimento da democracia. Em meados do século VII a.C., as trocas comerciais entre a Grécia e os centros mercantis do Levante e do delta do rio Nilo chamaram a atenção dos artistas gregos para a arte do Egito e do Oriente Próximo. A arquitetura, a escultura de monumentos egípcias influenciaram os gregos no sentido de se afastarem da arte geométrica e a adotarem os estilos e temas que caracterizam a arte grega arcaica. O desenvolvimento de uma identidade artística especificamente grega fez com que as artes prosperassem no litoral da Ásia Menor e das ilhas Egeias até a Grécia continental, a Sicília e o norte da África
O aspecto mais notável da nova arte grega foi o desenvolvimento rápido da escultura, de um arquétipo arcaico simétrico e inicialmente geométrico – inspirado pelos egípcios – a uma anatomia e expressão realistas, exemplificadas pela escultura do Partenon (447 a.C. – 432 a.C.) em Atenas. Esse período arcaico foi dominado por dois tipos de escultura em larga escala e sem apoio: o kouros masculino, um jovem nu em pé, e seu equivalente feminino, a kore uma jovem em pé vestida. Entre os mais antigos exemplares estão os dois kuroi de Delfos, chamados de Cleobis e Biton (c. 580 a.C. – 560 a.C.). Essas esculturas revelam influências egípcias na postura, no estilo linear e nas proporções. […].
Assim. É fundamental que, sim, entendamos a influência dos povos do norte da África no que hoje consideramos arte clássica, sem, contudo, sermos reducionistas em dizermos que tal ou qual cultura deriva de outra.
Apesar de ser tentador vermos a história através dos nossos olhos, há partes da presença humana nesse planeta que ainda nos são amplamente desconhecidas ou que tiveram seus preceitos cristalizados no pensamento moderno de forma equivocada. Não podemos permitir que isso se repita com a novas descobertas que fizermos de agora em diante (ou seria de agora para trás como veem os Mapuche?). Em muitos aspectos o passado é tão desconhecido quanto o futuro, mas o fundamental é entendermos que os seres humanos são apenas humanos, em suas pequenezas e genialidades.
Que esse ano, e todos os que o seguirem tornem cada vez mais claro isso: o ser humano, onde quer que esteja é fundamental um para os outros e para o meio em que está.






