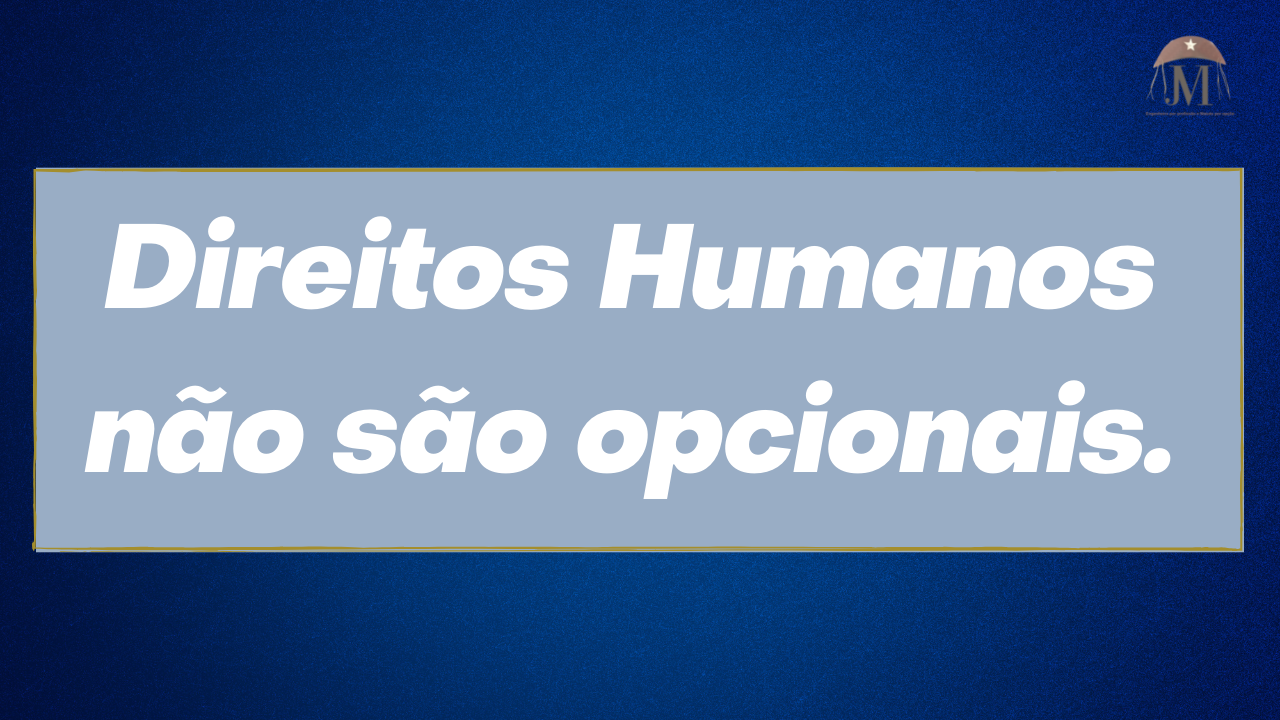
Bem senhoras e senhores, após o carnaval o ano se inicia (não sei bem se acho apropriado ou inusitado o fato de se começar com cinzas e quarenta dias de jejum). E este ano, mais do que os últimos, começamos cobertos de cinzas.
Devo admitir que, como estudioso de política internacional, o conflito entre Ucrânia e Rússia não me surpreende. O gigante euro-asiático sempre teve por costume ser um vizinho um tanto intrometido, e, se olharmos para história, poderemos observar que a relação entre os dois países é de longa data. Desde o século nono, para ser mais exato, quando a atual Rússia fazia parte do principado de Kiev (atual Ucrânia). Com o decorrer dos séculos, já no século 16, Ivã, conhecido como “O Terrível”, unificou “todas as Rússias” (que corresponderiam, hoje, aos territórios da Rússia, Ucrânia, Belarus e a Sibéria) que passaram a ter sua capital em Moscou. Desde então, com exceção de alguns lapsos temporais, até o fim da União Soviética em 1991, o território manteve-se contínuo, e o título de “Czar de Todas as Rússias” foi utilizado até o último membro da dinastia Romanov no século 20.

Além da relação simbiótica entre as duas nações eslavas, desde a invasão da península da Criméia em 2014 o poderio Russo sobre seus vizinhos vem se intensificando, mas deixemos a cobertura das batalhas, incursões e bombardeios para os jornalistas profissionais.
Por minha parte, prefiro me referir às colunas de uma filósofa alemã escritas, na década de 1960, para a revista americana “The New Yorker”, posteriormente transformadas em livro, em que esta cobria, o que se pensava ser “o julgamento do século”. Essa filósofa se chamava Hannah Arendt e escreveu uma obra intitulada “Eichmann em Jerusalém – Um relato sobre a banalidade do mal”.

Nesta obra, Hannah Arendt, judia refugiada nos EUA, após cobrir o julgamento de Adolf Eichmann, antigo burocrata da Alemanha Nazista refugiado nos arrabaldes de Buenos Aires, relata todo o julgamento como uma espécie de caça às bruxas, na qual os juízes israelenses tratavam um mero burocrata, de inteligência mediana, como um grande vilão e responsável pelo Holocausto.
Este relato, contudo, é apenas o plano de fundo para a teoria criada pela filósofa: a banalidade do mal. Ao presenciar o julgamento daquele homem, que mais parecia um bancário do que um genocida, ela pôde se dar conta que o mal não tem cara. Nenhum dos autores intelectuais da “solução final”, como era conhecida a matança orquestrada de judeus pelo estado alemão, tinham “cara” de maus, e nenhum traço de personalidade ou comportamento que os distinguisse de qualquer outra pessoa.
No caso de Adolf Eichmann, este se declarava inocente por ser responsável apenas pela logística dos trens que levavam os judeus para a morte, não sendo responsável por decisão alguma. Ele “apenas cumpria ordens”. Para ele, a morte de milhares de pessoas não era um fato a ser observado nem contestado, para ele tudo o que importava é que os trens e sua “carga” saíssem e chegassem aos seus destinos conforme um cronograma operacional.
O conceito de banalidade do mal, criado por Hannah Arendt, a partir da observação desse caso, aparenta, e é, crucialmente simples: o mal é banal. Comum. Corriqueiro. E por isso nos acostumamos com ele. Em muitos casos o mal perde a sua “cara” de mal. Quantos de nós não assistimos programas policiais em que os piores crimes pensados na psique humana são exibidos cruamente e degustados entre uma garfada e outra de um ordinário feijão com arroz?
O que quero dizer, aliás, o que Hannah Arendt diz, é que o mal não está apenas nas câmaras de gás de Auschwitz, está nas ruas, ao nosso redor, e nós o banalizamos ao ponto de, talvez, nós mesmos o praticarmos.
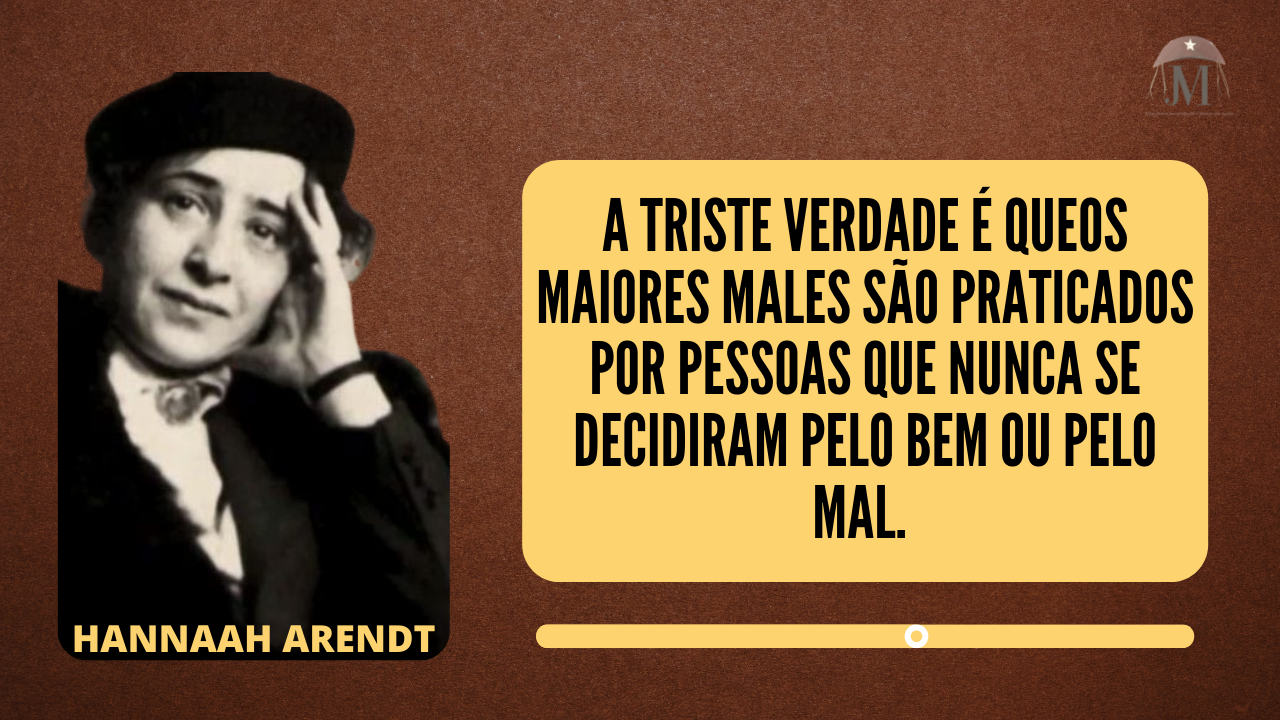
Entretanto, uma questão se faz fundamental, por que, ou como, somos capazes de banalizar tragédias humanas tão latentes?
Infelizmente temo não poder dar uma resposta satisfatória a essa pergunta, contudo, posso falar sobre o “como” fazemos isso. Não sei se por uma questão de nossa própria natureza humana ou alguma construção social, mas nós, humanos, temos uma tendência a dividir a humanidade entre “nós” e os “outros”. Quem são esses “nós” e quem são os “outros” depende muito do contexto histórico, político, geográfico, social, religioso… em que estamos inseridos.
“Nós” podemos ser católicos e “os outros” podem ser protestantes, “nós” podemos ser cristãos e “os outros” bárbaros… infinitos são os exemplos. Todavia, no artigo de hoje gostaria de trazer de volta à baila o debate sobre o “nós” brancos e “os outros” negros, árabes, indígenas… enfim, pessoas não brancas.
Não sei se o leitor está familiarizado com os conflitos correntes no mundo, mas vou listar alguns deles. O conflito entre Israel e Palestina, que dura desde a década de 1940, e instaurou um regime similar ao do apartheid em que palestinos são segregados a guetos, sendo a chamada “Faixa de Gaza” o mais conhecido, de onde os habitantes precisam de autorização das autoridades israelenses para entrar e sair; dentre tantas outras arbitrariedades e conflitos armados que já deixam milhares de mortos e um sem número de deslocados.

Um pouco mais ao sul, na Etiópia, após 20 anos de conflito com a vizinha Eritréia, iniciou-se um conflito civil entre rebeldes da região de Tigray, no norte do país, com as forças estatais. O conflito no país africano é, principalmente, motivado por questões étnicas, na qual as diversas etnias presentes em seu território se digladiam em busca do poder. O conflito já deixou milhares de mortos e cerca de sete milhões de refugiados.
Ainda, logo ali, do outro lado do Golfo de Adem, no Iêmen, Arábia Saudita e Irã protagonizam o que talvez venha a ser uma das piores crises humanitárias deste século. Dos 30 milhões de habitantes do Iêmen, 21 milhões precisam de ajuda humanitária para sobreviver. A guerra civil iemenita já deixou mais de 10 mil crianças mortas ou mutiladas. Ao todo, 11 milhões de crianças, ou seja, quatro a cada cinco, precisam de ajuda humanitária e 400 mil sofrem de desnutrição severa.
O atual conflito remonta a 2014, quando rebeldes xiitas do grupo Houthi se insurgiram e tomaram controle da capital, Sanaa, forçando a renúncia do então presidente. Alguns meses depois uma coalisão militar formada por países do golfo, principalmente Arábia Saudita, com apoio logístico e de inteligência dos EUA, deu início a ataques aos grupos rebeldes. O que se vê, hoje, no Iêmen é o que se chama de “guerra por procuração”, na qual não são propriamente os grupos envolvidos que se engajam na batalha. Neste caso, a coalização formada pela Arábia Saudita e EUA, apoiam o governo deposto, enquanto Irã, Iraque e partes da Síria e do Líbano apoiam os grupos rebeldes.

Mas o que estas guerras, quem vêm se desenrolando há um bom tempo na Ásia e na África têm em comum com, ou de diferente daquela travada entre as nações eslavas mais ao norte? No caso da guerra russo-ucraniana a questão gira em torno de partes da Ucrânia, hoje tidas como províncias rebeldes, que se identificam etnicamente como russas e reclamam a sua independência do Estado Ucraniano, não muito diferente do que ocorre há mais de um ano na Etiópia, por exemplo. A diferença está justamente na questão do “nós” e dos “outros”. Em nossa mente, como brasileiros, fomos educados a pensar que estamos muito mais próximos da Europa que da Ásia ou da África. Assim, a guerra entre Rússia e Ucrânia nos gera muito mais empatia por ser uma guerra que envolvem pessoas como “nós”, ao contrário dos conflitos etíope ou iemenita.
Além do aspecto geográfico, que faz com que Ásia e África sejam tidas como “o outro” distante e diferente, um aspecto latente nesses casos é a questão da raça. E, isto posto, devemos encarar um fato que nós, principalmente brasileiros, temos dificuldade de lidar: algumas vidas importam mais que outras. Apesar de incontáveis pessoas afirmarem com toda sua convicção que não há racismo no Brasil, o fato é que para nós, e boa parte do ocidente, vidas brancas importam mais.
Palestinos? São árabes retrógrados que oprimem suas mulheres e são afeitos a guerras. Africanos brigando por questões étnicas nada mais são que selvagens que se recusam a abraçar a civilização. Contudo, russos e ucranianos são como nós, brancos, ocidentais e civilizados. Mas nós realmente somos assim tão brancos, tão ocidentais e tão civilizados?

Encerro meu artigo desta semana propondo ao leitor que tente imaginar alguma guerra que esteja mais próxima a nós e que se baseie nessa diferenciação entre o “nós” e o “outro”, um conflito que, talvez envolva nossos vizinhos, ou, quem sabe, nós mesmos.






