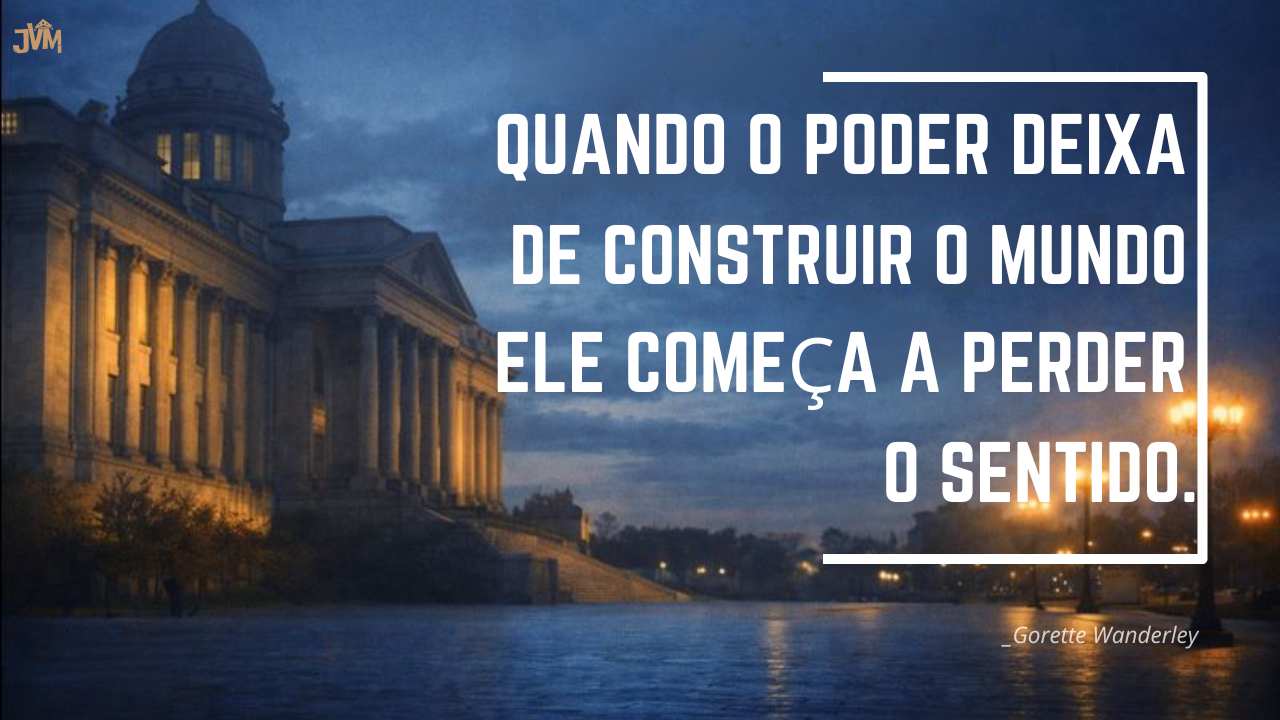
Por:Antonio Couras;
Hannah Arendt usava uma expressão pouco confortável para o nosso tempo: amor ao mundo (amor mundi). Não se tratava de otimismo, nem de apego sentimental às coisas como elas são. Amar o mundo, para Arendt, significava algo muito mais exigente: assumir responsabilidade pelo que existe entre nós, pelas instituições, obras, espaços públicos e formas de vida que sobrevivem aos indivíduos e permitem que a pluralidade humana não se transforme em guerra permanente.
O mundo, em Arendt, não é a natureza nem o planeta. É o que os seres humanos constroem juntos e deixam de pé. Cidades, leis, universidades, bibliotecas, praças, rituais políticos, regras comuns, linguagem pública. O mundo é aquilo que permanece quando as gerações passam. E é exatamente por isso que ele funda a legitimidade: aceitamos autoridade, desigualdade e conflito enquanto sentimos que há algo comum sendo sustentado.
O problema do nosso tempo é que essa construção do mundo parece ter entrado em colapso.
Vivemos uma era de poder sem mundo. De riqueza sem obra. De influência sem responsabilidade durável. As elites econômicas globais acumulam recursos em escala inédita, moldam comportamentos, controlam fluxos de informação e reorganizam o cotidiano de bilhões de pessoas, mas não criam mundo comum. Operam no registro do fluxo, da extração, da atenção, do dado, do engajamento, não no da permanência.

Isso ajuda a explicar uma sensação difusa que atravessa o debate público: a percepção de que os ricos de hoje não são apenas desiguais, são supérfluos.
Historicamente, elites sempre foram violentas, predatórias e injustas. Os chamados robber barons do final do século XIX e início do XX, Rockefeller, Carnegie, Vanderbilt e seus equivalentes tropicais, como os barões da borracha, exploraram mão de obra, destruíram ecossistemas e concentraram poder. Não eram virtuosos. Mas havia um elemento que hoje parece ausente: eles deixavam coisas no mundo.
Ferrovias, portos, cidades, indústrias, teatros, óperas, bibliotecas, universidades, hospitais. Muitas dessas obras nasceram de vaidade, culpa ou cálculo político, mas isso é secundário. O ponto central é que havia um pacto simbólico implícito: a riqueza precisava se materializar em algo que pudesse ser compartilhado, apropriado pela cidade, incorporado à vida coletiva. Mesmo a hipocrisia tinha forma.
A Belle Époque amazônica, com seus teatros e palácios erguidos sobre violência e desigualdade, ainda assim produzia espaço público, memória urbana, instituições culturais. Criava mundo, ainda que de maneira profundamente injusta. E isso conferia uma espécie de legitimidade residual à elite que a financiava.

Hoje, boa parte da riqueza contemporânea não deixa rastro. Plataformas substituem praças. Termos de uso substituem leis. Fundos privados substituem políticas públicas. Filantropia personalizada substitui direitos. Quando uma empresa quebra, um algoritmo muda ou uma rede social cai, não sobra nada. Nenhuma obra que pertença a todos. Nenhuma instituição que sobreviva ao humor de seu criador.
É aqui que Arendt se torna especialmente atual. Para ela, o maior perigo político não é a desigualdade em si, mas a desmundanização: a dissolução do mundo comum que torna possível a política. Quando o mundo desaparece, o poder continua existindo, mas perde legitimidade. E poder sem legitimidade não se sustenta por muito tempo sem recorrer à coerção, ao espetáculo ou ao medo.
A crise que vivemos não é apenas econômica, nem apenas política. É uma crise de mundo. Por isso ela se manifesta como cinismo generalizado, agressividade moralizada, nostalgia por passados idealizados e ódio difuso às elites. Não se trata apenas de inveja ou ressentimento. Trata-se da intuição, muitas vezes mal formulada, de que há poder demais circulando sem nada sendo construído.
Arendt alertava que elites não caem por serem más. Caem quando se tornam supérfluas. Quando já não conseguem justificar seus privilégios como parte de um projeto compartilhado. Quando deixam de amar o mundo e passam apenas a explorá-lo.
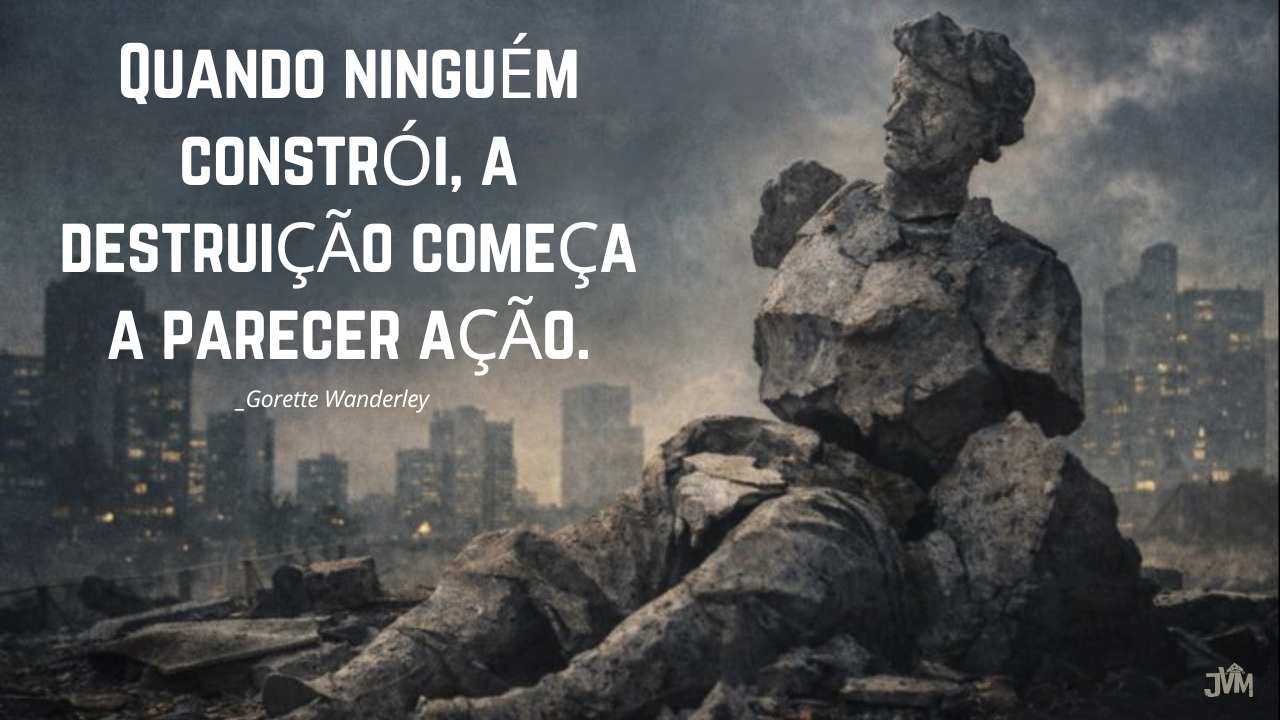
O risco do nosso tempo não é simplesmente que os ricos sejam derrubados. A história mostra que isso pode acontecer de várias formas. O risco maior é que, na ausência de mundo, a queda da elite não seja substituída por nada além de vazio, autoritarismo ou destruição simbólica. Quando ninguém constrói, destruir parece ação. Mas destruir não cria mundo.
Recuperar o amor ao mundo não é romantizar o passado nem esperar virtude dos poderosos. É reconstruir instituições que obriguem a riqueza a se transformar em mundo comum. É devolver centralidade ao espaço público, à durabilidade, àquilo que não pode ser privatizado nem monetizado facilmente. É aceitar limites, inclusive à velocidade, à extração e ao acúmulo.
Sem isso, continuaremos vivendo essa estranha combinação de abundância material e miséria simbólica. Um tempo em que tudo circula, nada permanece, e o poder, cada vez mais grotesco, paira acima de uma sociedade que já não reconhece nele nenhuma serventia.
E, como Arendt sabia bem, quando o mundo deixa de ser amado, ele não desaparece em silêncio. Ele se vinga.






