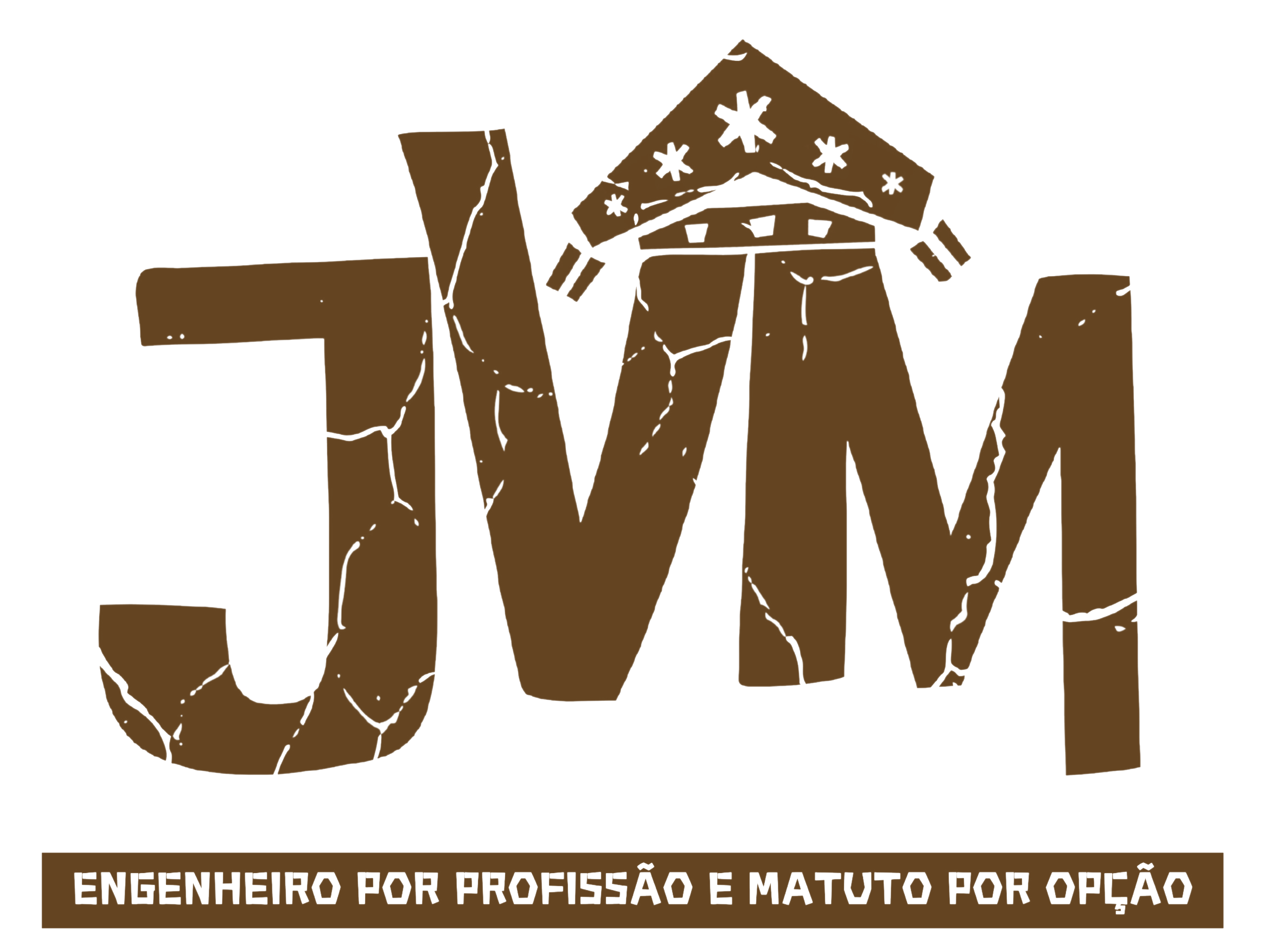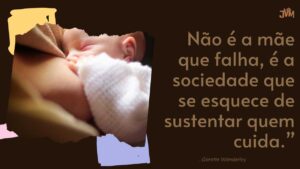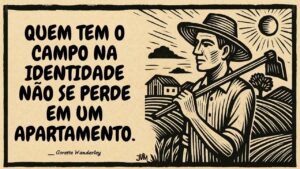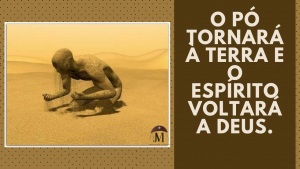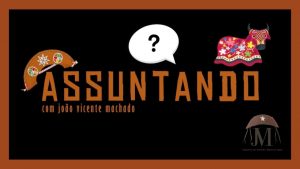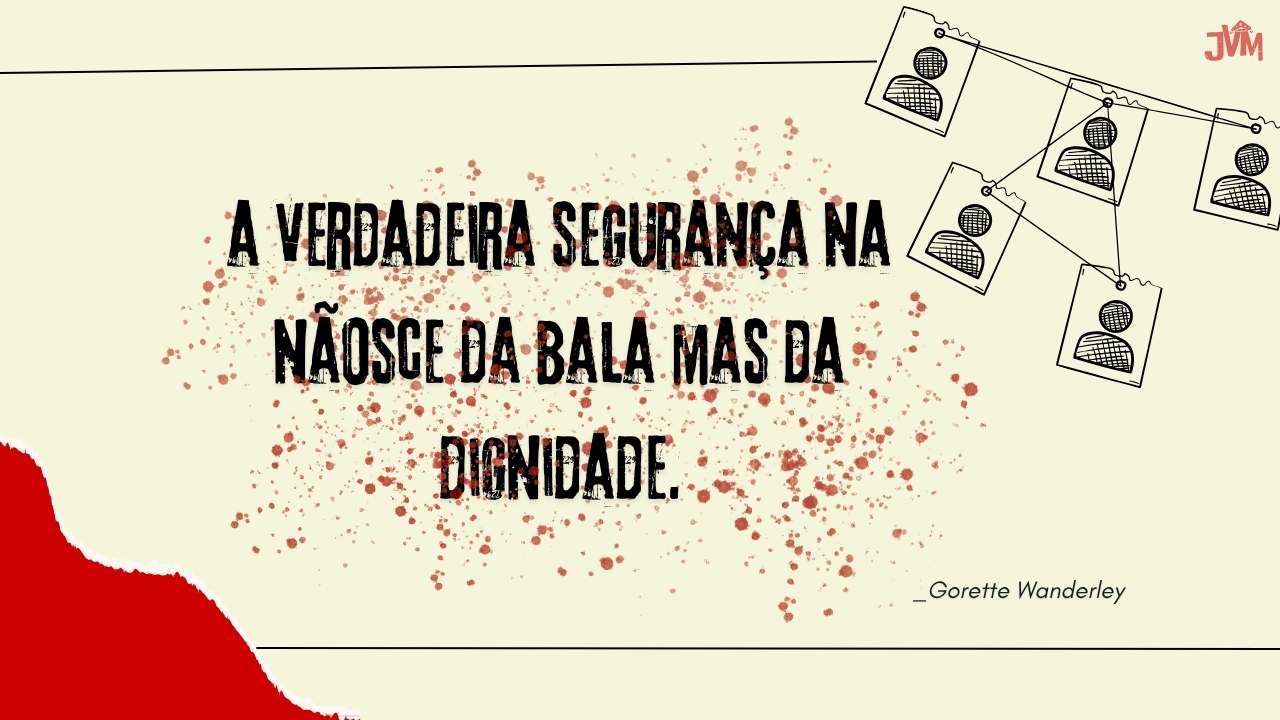
Por: Jéssica Flávia Rodrigues Corrêa;
Vivemos em uma sociedade que transformou o ato de punir em uma espécie de paixão contemporânea. Didier Fassin nos ajuda a compreender esse fenômeno quando mostra que punir deixou de ser um simples instrumento de justiça e passou a ser uma forma de coesão moral, um ritual coletivo que reafirma pertencimentos e delimita fronteiras: quem merece viver e quem pode morrer. No Brasil, essa paixão de punir ganha contornos dramáticos — e trágicos — em cada operação policial que transforma comunidades em campos de guerra, em cada aplauso à morte de jovens pobres e negros, em cada manchete que naturaliza a violência estatal como se fosse inevitável.
O que assistimos recentemente no Rio de Janeiro não é um episódio isolado, mas o sintoma de uma estrutura. A sociedade brasileira aprendeu a confundir justiça com vingança e segurança com extermínio. O discurso populista penal encontrou aí o seu terreno fértil: para parte expressiva da população, o “bandido bom é o bandido morto”, e o espetáculo da repressão produz a ilusão de que a violência está sendo combatida, quando na verdade apenas muda de forma e endereço. O Estado mata para mostrar força, mas o faz onde sempre matou: nas favelas, nas periferias, nos corpos negros. A guerra é seletiva e, portanto, política.
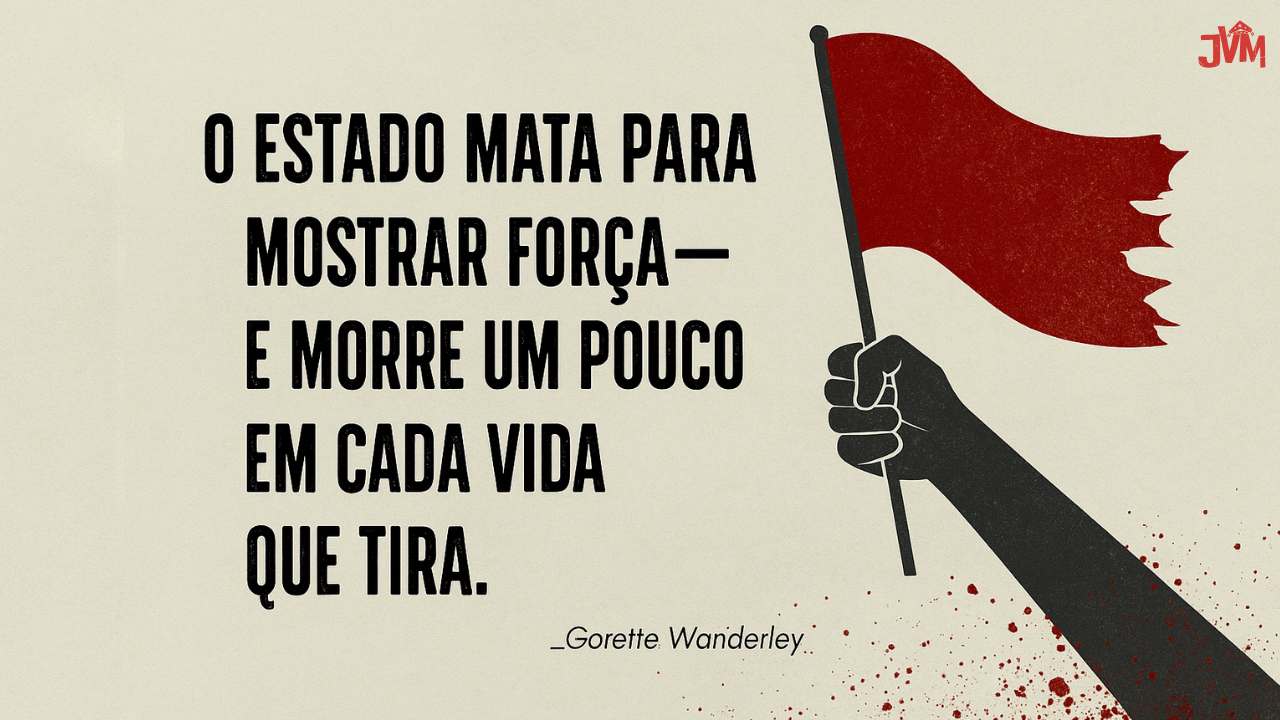
Essa lógica também alimenta o outro polo do debate público. A esquerda institucional, embora denuncie as chacinas e reivindique os direitos humanos, muitas vezes o faz de modo abstrato, discursivo, distante da realidade concreta das comunidades. Enquanto o populismo de direita governa pelo medo, parte da esquerda reage pelo escândalo — e ambos acabam presos no mesmo jogo: atacam os efeitos, não as causas. A causa real é histórica e estrutural. Desde o fim da escravidão, o Brasil excluiu os libertos da cidadania: sem terra, sem moradia, sem educação, sem saúde, sem direitos. Foi assim que nasceram as favelas — territórios onde o Estado nunca chegou com políticas públicas, mas chega armado quando quer reafirmar sua autoridade.
Onde o Estado se ausentou, o crime ocupou. E o crime, por sua vez, tornou-se o espelho distorcido do próprio capitalismo: ascender, consumir, ter poder — mesmo que pelo caminho da ilegalidade. Os jovens que cresceram vendo o traficante como a única figura de sucesso dentro do seu horizonte social não são “inimigos da sociedade”, mas produtos dela. A cada operação, o Estado mata seus próprios filhos, como se fosse possível limpar o sangue da história com mais sangue. Os chefes do crime, os grandes beneficiários da lavagem de dinheiro e da economia ilícita, não estão nas vielas do Alemão, mas nos escritórios da Faria Lima. E ninguém os toca.

Muitos clamam por uma “união dos Três Poderes” para enfrentar o problema. Mas essa ideia carrega uma contradição profunda: como esperar que as instituições responsáveis pela manutenção da ordem desigual sejam também as agentes de sua superação? O Executivo, o Legislativo e o Judiciário são compostos, em sua maioria, pelas mesmas elites que se beneficiam da estrutura de exclusão que produziu a crise. O Judiciário, em particular, é frequentemente exaltado como o guardião da Constituição, o poder técnico e neutro. Mas o Judiciário brasileiro nasce e opera dentro de uma lógica de classe e de raça. Ele fala em nome da justiça, mas raramente ouve o povo; decide sobre a vida nas favelas sem jamais ter pisado nelas. Seu discurso reformista, ainda que travestido de “processos estruturais”, mantém a lógica vertical da dominação: a mudança “de cima para baixo”, decidida por quem nunca sentiu na pele o peso da exclusão.
Nenhum processo estrutural imposto por sentenças substitui o processo político e social de conscientização. Transformação verdadeira não é decretada — é construída. É nas ruas, nas escolas, nas comunidades, nos movimentos de base que nasce a possibilidade de um outro país. A justiça que vem de cima pode corrigir pontualmente abusos, mas não desmantela a estrutura que os produz. O que chamam de união institucional, portanto, é muitas vezes apenas um pacto de conservação, uma maquiagem democrática para um Estado que continua a decidir quem deve morrer para que outros possam continuar vivendo com a consciência tranquila.
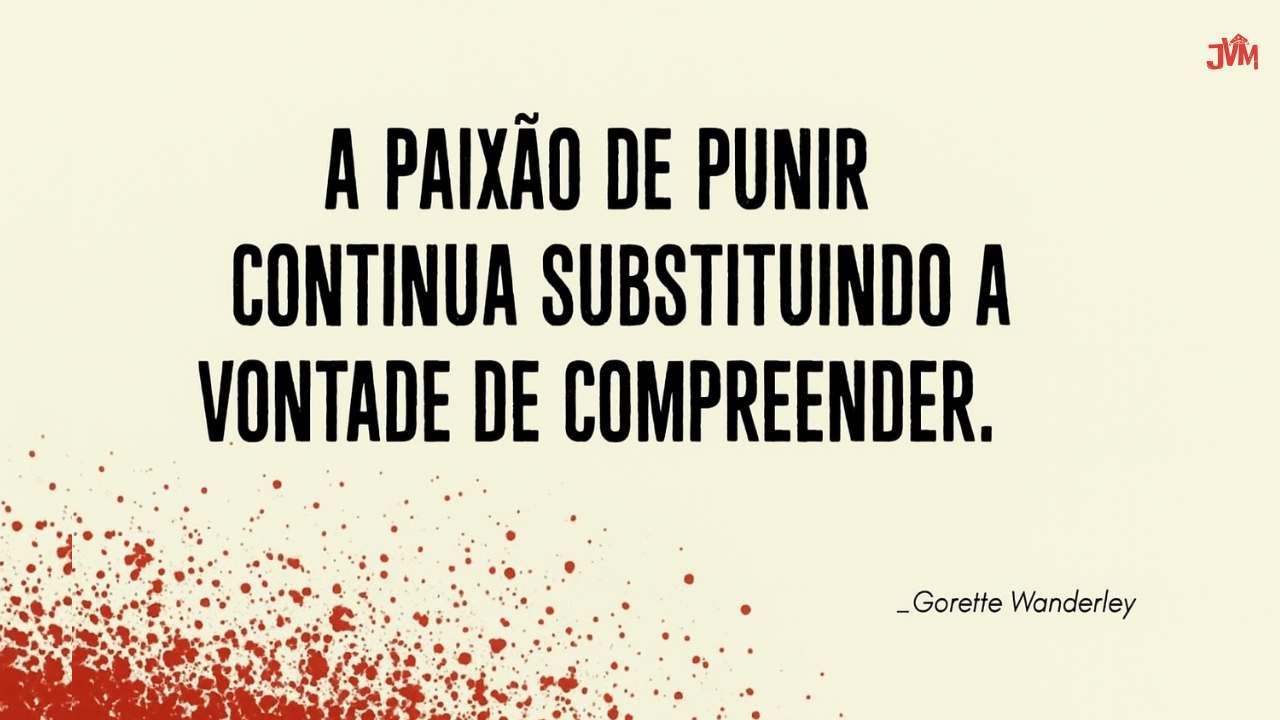
É triste, mas necessário dizer: ninguém quer realmente mudar o sistema. A direita precisa do medo para legitimar sua força; a esquerda precisa da tragédia para legitimar seu discurso. Ambas sobrevivem do mesmo espetáculo — o da desigualdade. O povo pobre e negro segue sendo o cenário dessa disputa, e suas mortes continuam sendo tratadas como estatísticas de uma guerra que nunca foi sua.
Não é sobre “bandido bom ou bandido morto”. É sobre um país que naturalizou a morte dos que nunca foram incluídos na vida. É sobre o silêncio das instituições e a indiferença social diante do massacre cotidiano. É sobre entender que a verdadeira segurança não nasce da bala, mas da dignidade. E que, enquanto a paixão de punir continuar substituindo a vontade de compreender, continuaremos condenados a repetir a mesma tragédia — agora transmitida ao vivo, em tempo real, como se fosse apenas mais um episódio de uma série que nunca termina.