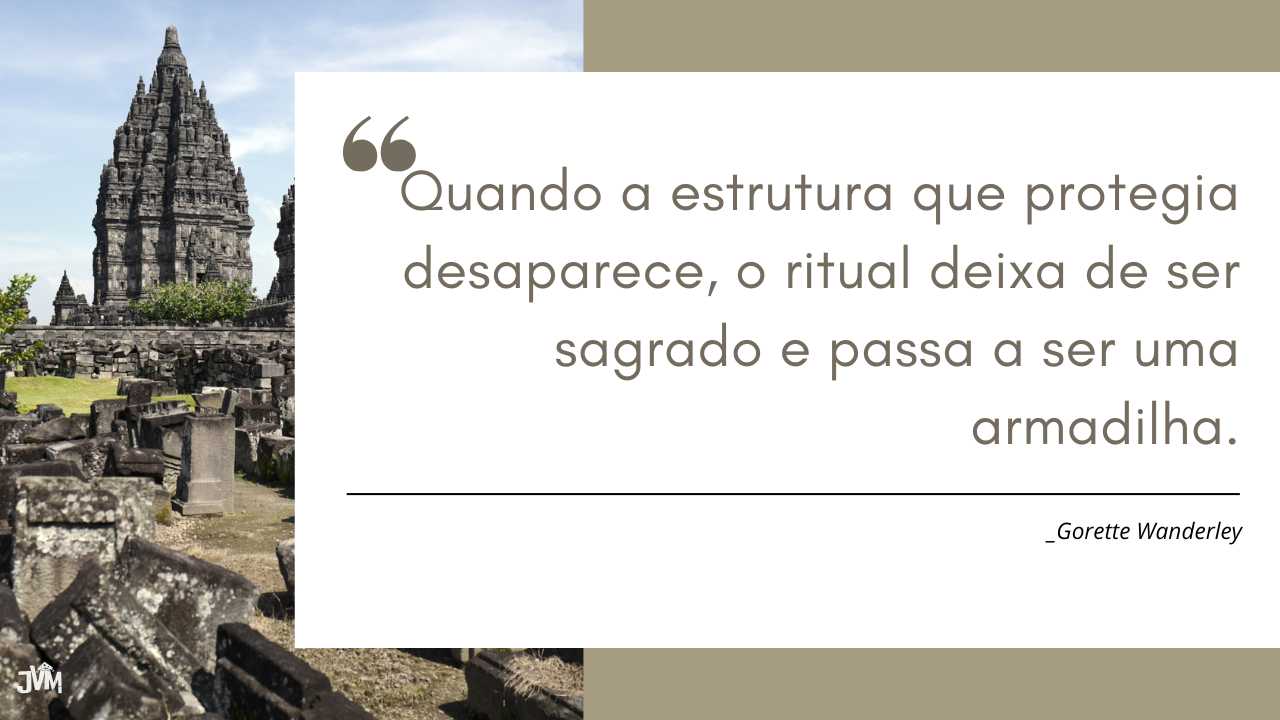
Por: Antonio Couras;
No sul da Índia existe uma tradição chamada “sistema das devadasis”, tão antiga quanto os próprios templos. Durante séculos, dedicar uma menina a uma divindade era uma honra: ela se tornava funcionária do templo, recebia educação refinada, estudava música, poesia e filosofia, e se tornava guardiã das artes sagradas como o Bharatanatyam, uma típica dança indiana. Essas mulheres tinham autonomia, patrimônio, respeito e proteção — algo que poucas outras mulheres da época possuíam. Mas essa versão gloriosa pertence ao passado.
Hoje, em muitas aldeias pobres, a dedicação sobrevive apenas como rito vazio: a menina recebe um colar, participa de uma cerimônia, é declarada “da deusa” e volta para casa com um rótulo que não lhe traz nem dignidade, nem proteção. E é exatamente esse rótulo que a empurra para um lugar de abandono social. A consagração não a eleva — a marca. A partir daquele momento, ela deixa de ser vista como uma filha com futuro e passa a ser tratada como alguém destinada a viver fora da trilha comum: sem estudo consistente, sem oportunidades, sem casamento, sem tutela. Ela continua sob o mesmo teto, mas não tem mais um lugar na própria família.
Essa distorção não nasceu da cultura indiana em si: nasceu do colonialismo britânico, que simplesmente não entendeu o que via. Para o olhar moralista vitoriano, qualquer mulher autônoma, dançando em público e mantendo relações fora do casamento era automaticamente associada à “imoralidade”. Os britânicos não viram arte, nem espiritualidade, nem tradição — viram escândalo. E, com a força de um império, esmagaram tudo o que não cabia no próprio puritanismo.
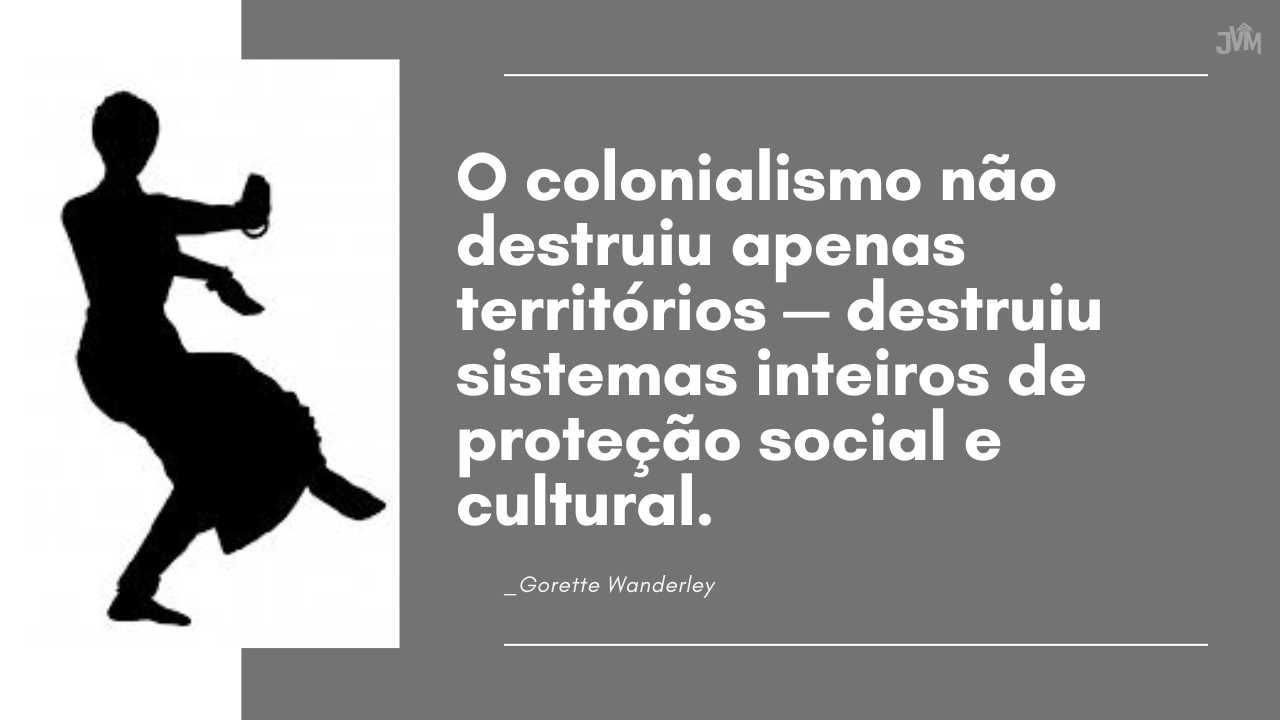
Confiscaram as terras dos templos, cortaram o financiamento que sustentava artistas e sacerdotes, proibiram rituais, perseguiram escolas de dança, e classificaram as devadasis como mulheres “desviantes”. A partir do momento em que templos perderam suas fontes de renda, o sistema que sustentava essas mulheres entrou em colapso. E quando a elite indiana, já influenciada pelos britânicos, passou a repetir esse discurso moralista, o destino das devadasis foi selado. O que antes era uma posição de prestígio tornou-se um estigma.
O resultado foi um cenário completamente perverso: o ritual de dedicação sobreviveu, mas todo o resto — o templo, o salário, a proteção, o status, o respeito — desapareceu. O gesto permaneceu, mas vazio. Sem templo para acolher a menina, sem educação garantida, sem função social reconhecida, a família a dedica e, em seguida, a empurra simbolicamente para fora da vida comum.
Não se trata de abandono físico imediato, mas de abandono social: ela passa a viver dentro de casa, mas como alguém que não contará com investimento, com futuro ou com proteção. E, anos depois, quando cresce, esse vácuo se torna um convite para abusos de todo tipo. Uma menina isolada, sem estudo, com um rótulo que diz que ela “não pertence a ninguém”, se torna alvo de gente que sabe exatamente como explorar vulnerabilidades. E é isso que acontece todos os dias nas regiões onde essa tradição foi distorcida ao extremo.

Nada disso tem a ver com religião ou cultura viva — isso é a sobra de uma estrutura destruída. Se templos ainda fossem centros culturais ricos, se patronos reais existissem, se o sistema artístico estivesse de pé, essas meninas seriam, como antes, artistas, sacerdotisas, donas de patrimônio, mulheres com autonomia. Mas quando um império destrói a base econômica e institucional de uma tradição e deixa apenas o ritual solto na mão das comunidades mais pobres, o que nasce não é continuidade — é ruína. E nessa ruína crescem vidas quebradas.
É tentador olhar para a situação atual e enxergar apenas um problema “local”, restrito a uma cultura distante. Mas isso seria ignorar a raiz histórica: a maior parte dessa tragédia é consequência direta do colonialismo. Foi o olhar britânico, estreito e moralista, que transformou uma classe de artistas refinadas em um grupo marginalizado. Foi a interferência colonial que destruiu o sistema de proteção, e foi esse mesmo vazio que permitiu que a tradição se tornasse uma armadilha.
As mulheres dedicadas hoje não são sacerdotisas, não são artistas, não são guardiãs do sagrado. São meninas que recebem um nome bonito para justificar que ninguém cuide delas. Carregam uma consagração que não as protege de nada, apenas as coloca em um degrau onde têm menos direitos que todas as outras. Sofrem abandono institucional, exclusão social e um destino que começa a ser traçado antes mesmo de entenderem o que significa a cerimônia que lhes é imposta. E isso não é cultura — é violência legitimada pela tradição esvaziada.
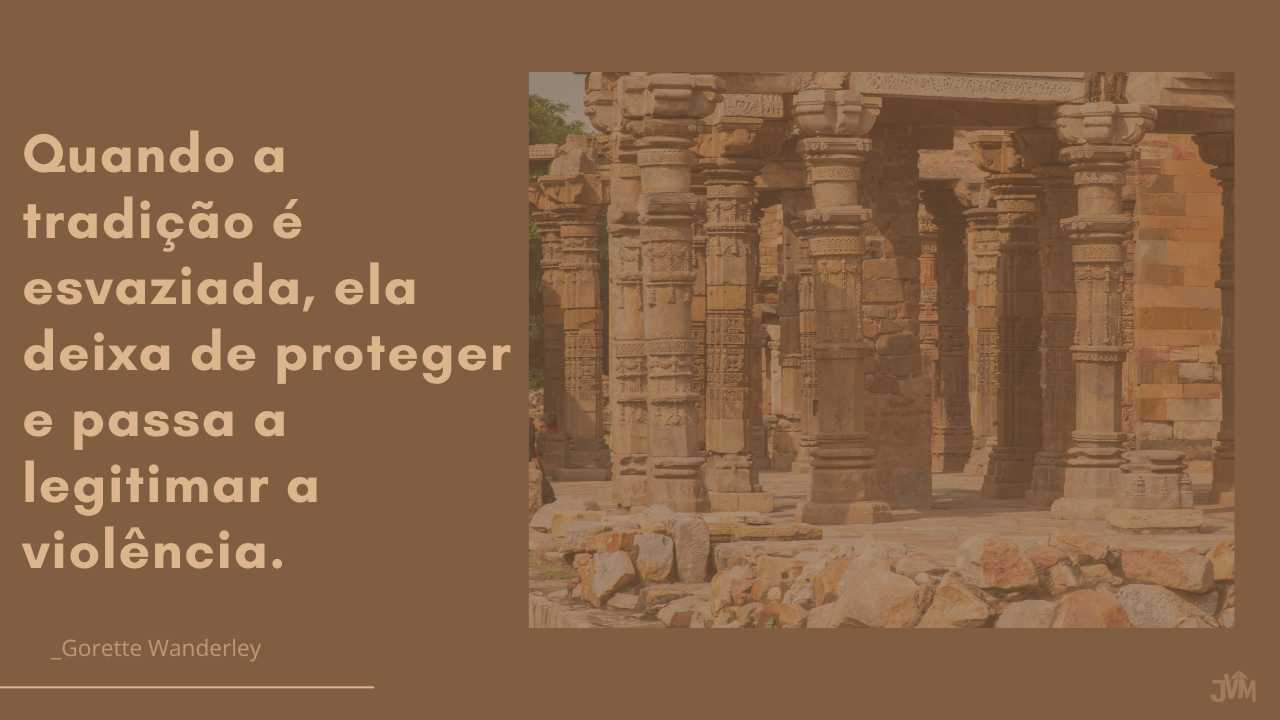
Mas não digo isso com saudosismo de tempos pré-coloniais. O sistema não precisa ser “resgatado” — precisa ser enterrado com dignidade, e substituído por políticas públicas, educação, acolhimento e reconstrução das vidas que foram destruídas pela combinação de pobreza, patriarcado e heranças coloniais.
A Índia moderna tem lutado, com ONGs e ativistas, para romper esse ciclo. Mas enquanto o ritual sobreviver sem a estrutura que lhe dava sentido, enquanto a pobreza for tratada como destino e enquanto a palavra “deusa” for usada para justificar a negligência, meninas continuarão pagando a conta de uma história que foi arrancada de suas raízes.
É preciso coragem para dizer isso claramente: a tradição das devadasis não existe mais. O que existe é o fantasma de uma cultura destruída. E enquanto essa sombra continuar viva, continuará projetando sofrimento sobre as meninas que deveriam ter sido artistas, mas foram empurradas para um abismo criado por séculos de incompreensão e desmonte colonial.






