
Por: Antônio Couras;
É desconcertante perceber que, em pleno século XXI, depois de séculos de lutas por direitos, da consolidação de Estados sociais e de sucessivas crises que escancararam a fragilidade do nosso modelo econômico, a humanidade retorna a níveis de desigualdade tão profundos quanto aqueles que marcaram épocas de ruptura histórica, como a Revolução Francesa e a Gilded Age americana.
Isso não é exagero retórico: é constatação empírica. Estudos do World Inequality Lab, liderado por Thomas Piketty, Emmanuel Soez e Gabriel Zucman, mostram que o 1% mais rico concentra hoje quase 38% de toda a riqueza privada mundial, enquanto a metade mais pobre divide cerca de 2% desse total. Nos Estados Unidos, país que frequentemente se apresenta como modelo de dinamismo econômico, a concentração de riqueza entre bilionários alcançou níveis equivalentes — e em algumas métricas até superiores — aos observados no final do século XIX, quando magnatas industriais moldavam o mercado e a política praticamente sem limites.
A comparação com a França pré-revolucionária, embora distante no tempo, não deixa de oferecer um espelho incômodo. Lá, os privilégios estavam inscritos na lei: clero e nobreza eram isentos de impostos enquanto o Terceiro Estado sustentava o aparato estatal. Hoje, a assimetria é menos explícita, mas não menos real.
Bilionários e grandes corporações, beneficiados por brechas legais, regimes tributários regressivos, ganhos financeiros blindados e estruturas transnacionais de planejamento tributário, pagam proporcionalmente menos impostos do que trabalhadores assalariados. A desigualdade não está mais estampada em brasões ou decretos, mas embutida em códigos tributários e mecanismos financeiros que transformam privilégios econômicos em quase-privilégios jurídicos.
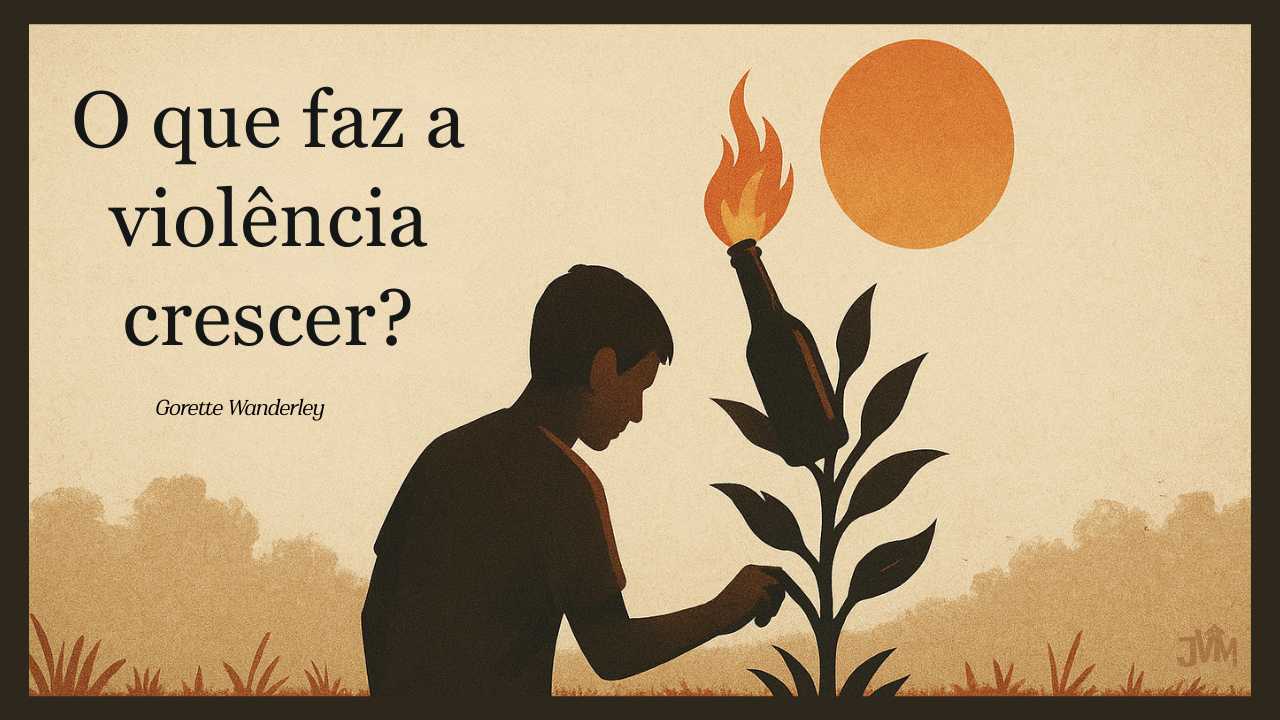
O mais perturbador, porém, não é a desigualdade em si, mas a naturalização dela. Vivemos cercados por sinais que mascaram o abismo: supermercados abastecidos, consumo parcelado, redes sociais que vendem histórias de sucesso meteórico e reforçam a fantasia de que todos têm chance de ascender, desde que trabalhem o suficiente. A classe média global, endividada e precarizada, ainda acredita que está a um passo do “sonho”, enquanto corre sem sair do lugar. A mobilidade social diminui, os salários estagnam, o custo de vida aumenta — e ainda assim o discurso meritocrático continua sendo repetido como um mantra que nos consola mais do que nos emancipa.
A profunda desigualdade atual não se sustenta apenas pela ganância dos poucos que concentram poder; ela se sustenta também pela aceitação silenciosa dos muitos que a sofrem. E essa aceitação tem suas raízes no cansaço, na sobrecarga emocional, na despolitização generalizada e na fragmentação social. Estamos exaustos demais para enfrentar problemas estruturais, receosos demais para exigir mudanças, e isolados demais para construir coletivamente alternativas. É mais fácil acreditar que “sempre foi assim” do que reconhecer que estamos repetindo erros que já custaram caro à humanidade.

É preciso admitir que a responsabilidade por esse estado de coisas não é apenas dos governos, dos bilionários ou das corporações — é nossa também. Aceitamos sistemas tributários injustos na esperança de que um dia possamos nos beneficiar deles. Aceitamos empregos com salários que não acompanham a produtividade porque tememos perder o pouco que temos. Rejeitamos políticas de redistribuição porque confundimos justiça fiscal com luta ideológica. Aplaudimos bilionários como se fossem heróis mitológicos, ignorando que sua fortuna é frequentemente produto de uma estrutura que drena recursos públicos, precariza trabalho e captura políticas. E seguimos consumindo, às vezes compulsivamente, como quem busca alívio para uma ansiedade que tem na desigualdade uma de suas causas.
O mais absurdo de tudo é que não se trata de um destino inevitável. A desigualdade extrema é uma escolha coletiva, ou, talvez mais precisamente, uma abdicação coletiva. A história está repleta de exemplos de sociedades que toleraram, até o limite da ruptura, abismos sociais semelhantes — e todas elas, sem exceção, pagaram caro quando perceberam tarde demais o que haviam aceitado como normal. A desigualdade não destrói apenas pela escassez, mas pela erosão lenta e contínua da confiança social, da legitimidade das instituições e da própria ideia de contrato social.
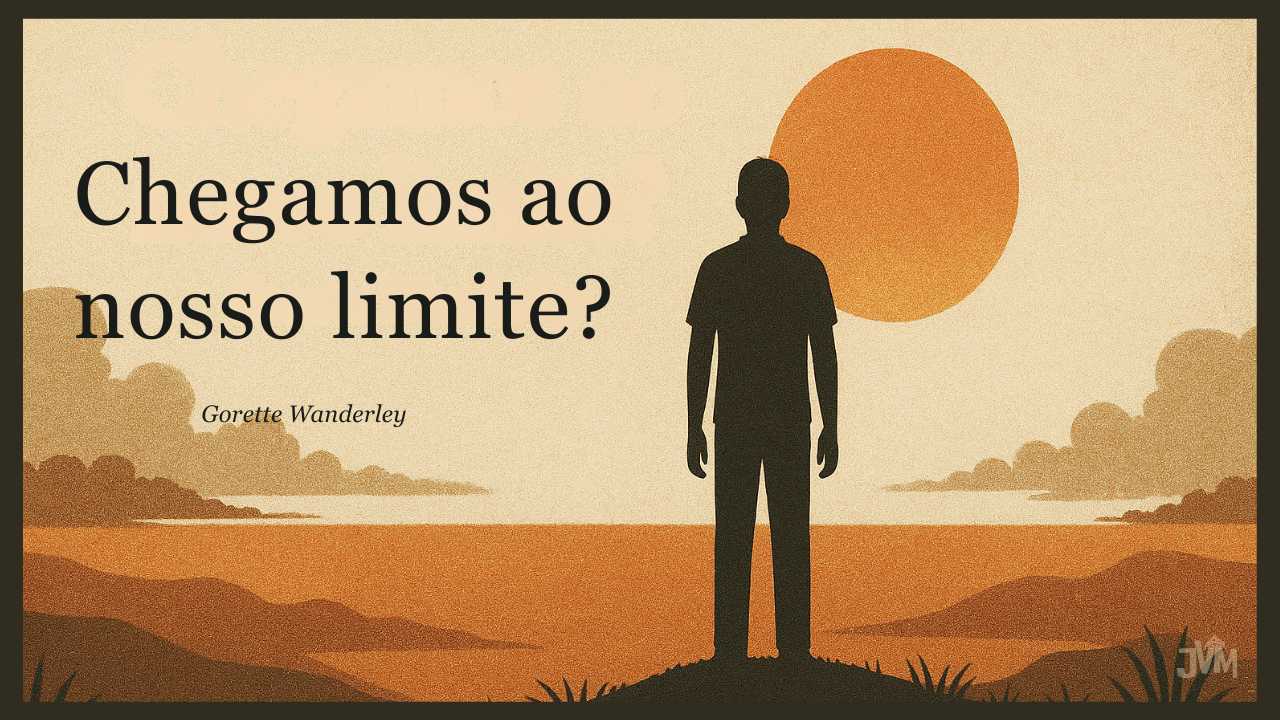
Se hoje vivemos um momento histórico que rivaliza em desigualdade com períodos que antecederam revoluções, não é apenas porque os mais ricos enriqueceram — é porque o restante de nós se acostumou ao absurdo. A tecnologia, a propaganda, o crédito fácil e a hiperconectividade criaram um mundo em que quase tudo parece mais urgente do que enfrentar a injustiça estrutural que define nossas vidas. Adiamos a reflexão, terceirizamos a responsabilidade, fingimos que não vemos o tamanho do problema. E, no entanto, ele está aí, crescente, gritante, cada vez mais difícil de ignorar.
A pergunta inevitável, amarga e urgente, é por que aceitamos isso. Em que momento deixamos de acreditar que merecemos um mundo mais justo? Em que momento confundimos normalidade com resignação? Como chegamos ao ponto de tolerar, com uma docilidade inquietante, que poucas pessoas concentrem poder suficiente para moldar governos, controlar narrativas e orientar a própria lógica da sociedade? A desigualdade que nos cerca não é apenas um fato econômico: é um espelho moral. E, ao olhar para ele, deveríamos sentir não apenas indignação, mas também vergonha — porque o absurdo não está só nos números; está no silêncio com que os validamos.






