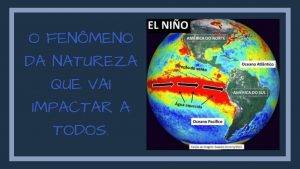Por: Antônio Couras;
A guerra costuma carregar um repertório próprio de horrores, mas algumas revelações ultrapassam até aquilo que o imaginário mais sombrio é capaz de conceber. As investigações sobre os supostos “safaris humanos” durante o cerco de Sarajevo, na Bósnia, nos anos 1990, pertencem exatamente a essa categoria. A ideia parece improvável e soa quase como uma provocação contra o senso de realidade, porque desafia nossa capacidade de aceitar que seres humanos possam transformar a morte de outros em uma experiência recreativa. Ainda assim, essa acusação — retomada por documentários, reportagens e, mais recentemente, por investigações oficiais — exige ser encarada com seriedade.
O cerco de Sarajevo, que se estendeu de 1992 a 1996, foi um dos episódios mais longos e cruéis da história europeia recente. Cerca de 10 mil civis morreram enquanto tentavam sobreviver entre prédios destruídos, ruas convertidas em corredores de morte e abastecimento reduzido a nada. As colinas ao redor da cidade foram ocupadas por snipers que vigiavam cada movimento, transformando ações triviais — atravessar uma avenida, buscar água, visitar um parente — em apostas de vida ou morte. Foi nesse cenário que surgiram, ainda na época, rumores sobre estrangeiros que visitavam as posições de tiro. Muitos habitantes ouviam histórias esparsas, sem saber ao certo o que era exagero, boato, medo ou realidade.
Décadas depois, essas histórias ressurgiram com uma força perturbadora. O documentário Sarajevo Safari, lançado em 2022, reuniu depoimentos de pessoas que afirmam ter visto ou sabido de estrangeiros ricos que pagavam para ocupar posições de sniper e atirar contra civis. A partir desse material, investigações jornalísticas começaram a conectar fragmentos, sugerindo uma possível rede de viagens organizadas, intermediários e valores altos pagos por “sessões” de tiro. Em 2025, a Promotoria de Milão iniciou formalmente uma investigação sobre cidadãos italianos que teriam participado desses episódios — um sinal de que a alegação ultrapassou o âmbito do rumor e entrou no terreno da possibilidade concreta.

Embora ainda não haja confirmação judicial, o conjunto de indícios merece atenção. Testemunhas descrevem estrangeiros acompanhados por militares sérvios, usando rifles modernos e atuando fora de qualquer lógica militar, como se estivessem ali para satisfazer um impulso mórbido. Um ex-analista de inteligência bósnio relatou que “cada vítima tinha um preço”, sugerindo que haveria até uma tabela informal para diferentes tipos de alvos. O peso dessa afirmação não está apenas no conteúdo, mas no tipo de olhar que ela revela: o olhar do mercado. Quando a vida passa a ser mensurada, precificada, organizada em categorias de interesse, a violência deixa de ser instrumento e se torna produto.
É evidente que a brutalidade da guerra já implica uma suspensão coletiva das normas morais. Civis morrem, cidades são destruídas, direitos desaparecem. Mas transformar o assassinato de pessoas indefesas em entretenimento pago ultrapassa o limite do que a guerra normalmente explica. O que está em questão é o grau extremo de desumanização possível: um estágio no qual o outro é percebido apenas como alvo, como objeto de curiosidade ou satisfação. Essa lógica não é inédita na história humana — há precedentes na escravidão, no colonialismo, em regimes de extermínio — mas no contexto europeu contemporâneo, e tão recentemente, ela produz uma sensação de deslocamento moral profundo.

Em paralelo, o fato de essas acusações terem permanecido nas sombras por tanto tempo levanta um segundo conjunto de questões. Por que tanta demora em investigar? Por que tantos arquivos ficaram intocados? Por que certos países preferiram não tocar no assunto? A resposta envolve múltiplos fatores. Algumas instituições temem revisitar suas próprias omissões. Outras calculam o custo diplomático de reabrir feridas. Há ainda a dificuldade concreta: testemunhas envelhecem, provas desaparecem, memórias se embaralham. Mas também existe a tendência humana — e política — de enterrar o que é moralmente desconfortável. A história prefere um culpado claro e um conflito com contornos definidos; ela não lida bem com zonas cinzentas que atravessam fronteiras e envolvem “turistas” que agiram fora de qualquer função militar.
Ao mesmo tempo, a retomada dessas discussões revela outra camada importante: o dever da memória. Sociedades que passaram por traumas profundos precisam nomear não apenas os grandes crimes sistemáticos, mas também as pequenas e grandes monstruosidades individuais que ocorreram à sombra deles. Sarajevo reconstruiu prédios, pontes e mercados, mas ainda carrega, subterraneamente, perguntas que jamais foram respondidas. Muitas famílias nunca souberam quem matou seus parentes. Para esses sobreviventes, a verdade — seja ela completa, parcial ou mesmo decepcionante — tem valor terapêutico. O silêncio, ao contrário, perpetua um tipo de violência diferente: a violência da dúvida, da impossibilidade de elaborar o luto, da sensação de que o mundo simplesmente não se importa.

Assim, mesmo que as investigações acabem revelando que os “safaris humanos” não ocorreram com a escala ou a organização sugerida pelos relatos, o fato de examiná-los já representa um acerto de contas com o passado. E, se forem confirmados, o mundo terá diante de si um exemplo estarrecedor de até onde a crueldade humana pode ir quando encontra o ambiente permissivo de uma guerra e o anonimato conveniente da destruição. Em ambos os cenários, o caminho é o mesmo: buscar a verdade, estabelecer fatos, desenterrar o que foi escondido e permitir que a memória coletiva se reconstruir com honestidade.
No fim, discutir esses relatos não é apenas revisitar um capítulo brutal da história da Bósnia; é examinar a parcela mais sombria da condição humana. A guerra, por si só, já oferece todas as desculpas para a desumanização, mas o que emerge aqui ultrapassa o pragmatismo violento do conflito. Revela um prazer ativo na destruição, uma curiosidade mórbida que só floresce quando a vida do outro já não significa nada. Por isso, investigar, registrar e discutir esse passado é também reafirmar um princípio básico: se não nomearmos a crueldade quando ela aparece, ela volta. E volta sempre mais ousada, mais silenciosa e mais preparada para ser repetida.