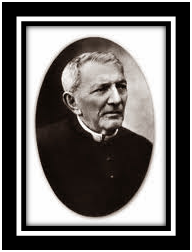Por: Antônio Henrique Couras;
Há casas que nos recebem antes mesmo de abrirmos a porta. Você coloca a mão na maçaneta e, por um instante, tem a impressão de que o metal reconhece a sua pele. É como se dissesse: “chegou”. Há muito tempo descobri que os objetos têm uma memória própria; aprendem as nossas mãos, nossas manias, o peso do que não dizemos. a madeira que range sempre do mesmo jeito, a xícara com a pequena lasca na borda, o livro marcado com um bilhete esquecido. e, ainda que não falem, os objetos nos narram — e, às vezes, nos desmentem.
Talvez por isso eu tenha desenvolvido o hábito de olhar para as coisas com o mesmo respeito que reservo às pessoas idosas. Fico diante de uma cadeira antiga, por exemplo, e imagino os corpos que já acolheu, as conversas que sustentou sem nunca se meter, a paciência com que foi ouvindo o passar dos anos. Penso que a cadeira sempre soube de algo que a gente leva décadas para aprender: o segredo de permanecer e de suportar. senta-se um, levanta-se outro, a tarde se dobra, a noite se alonga; a cadeira fica. no dia seguinte, tudo recomeça com a mesma calma silenciosa das madeiras boas.
Às vezes, no café da manhã, seguro a alça da xícara e me vem um pedaço inteiro de casa: o barulho da rádio, panela no fogo, a risada de alguém no corredor. não é que eu lembre; é a xícara que me lembra. nela ficou guardado o mapa dos nossos horários, a geografia íntima do cotidiano. alguém diria: “é só uma xícara”. E eu responderia: “não, é um relógio”. porque o objeto é isso: um relógio que não marca horas, mas permanências.

Há também o molho de chaves, esse pequeno rosário de portas. ninguém dá importância a elas até que se percam. aí, sim, cada dente ferrugento se converte num enigma. costumo pensar que a chave é o mais discreto dos objetos, carrega o segredo sem ter nada de secreto: está sempre à mão, no bolso, na bolsa, no gancho da entrada. o som que fazem ao tilintar — esse sino miúdo — anuncia partidas e chegadas, traduções invisíveis entre o dentro e o fora.
De vez em quando, um livro devolve mais do que me emprestou. As vezes encontramos guardados em suas páginas bilhetes de “eus” do passado, que no transportam para tempos que não lembrávamos mais. Os objetos guardam evidências que a memória adultera.
Os livros, aliás, são móveis dentro dos móveis. carregam casas inteiras, e cada dobra de orelha parece um canto de parede. Há quem goste de quando se compra um usado, de encontrar sublinhados alheios, datinhas no rodapé, assinaturas em tinta que já perdeu a coragem. há, nesses vestígios, uma conversa entre desconhecidos mediada pelo papel. “Quem sublinhou o verso que agora eu amo?” “Que história essa pessoa desejou sublinhar em si?

Uma vez, restaurei uma enorme imagem de Nossa Senhora da Conceição que pertencia a uma detestável prima. Aquela restauração me ensinou mais sobre paciência do que todos os monges do mundo. a peça tinha fraturas, falta de tinta, um leve desânimo de quem atravessou décadas de poeira. fui limpando camada por camada, até encontrar cores que a casa e o tempo tinham esquecido. a imagem parecia acordar. enquanto eu recuperava o azul, o dourado… era como se ouvisse histórias: “foi minha avó quem ganhou, no dia do casamento. quando a casa alagou, salvamos primeiro ela”. Pensei: não era o ouro que reluzia, era a memória polida pela devoção. Não era apenas gesso pintado — era um altar portátil de lembranças.
Aprendi, com aquela restauração, que o tempo nem sempre destrói: às vezes, ele sela. Os objetos ficam em silêncio, aguardando o instante em que uma mão disposta a ouvir e lhes devolver a voz.
Há, também, perfumes que já não existem, como se o mundo tivesse perdido uma palavra. A tampa, a etiqueta, o líquido que migrou para o ar: tudo sumiu. Mas, de repente, você entra numa sala e um cheiro atravessa a memória como uma carta entregue com atraso. É a casa da tia, é a manhã do domingo, é o abraço de alguém que não volta. Lembro de uma colônia horrível que minha professora de inglês usava. Até hoje lembro dela quando sinto aquela nauseante fragrância floral Cheiros são objetos invisíveis. Ficam nos tecidos, nos papéis, nos corredores. E, ao contrário do que pensam, não se dissipam: estão ali, à espreita, esperando o momento exato de saltar sobre a nossa lembrança.
Às vezes me pego imaginando: e se os objetos também preferirem certas horas? e se a xícara for mais feliz no amanhecer, o livro na madrugada, a cadeira ao cair da tarde? é bobagem, claro. mas há bobagens que explicam o mundo.

Mantenho uma gaveta de coisas incompletas. Cartas que não enviei, projetos que não comecei, fotografias sem moldura. A gaveta dos inacabados é um país independente dentro da casa. quando abro, o ar muda. é como se um vento de possibilidades me soprasse na cara. ali, cada objeto é um gerúndio: algo que está sendo, que poderia ser. A caneta sem tampa, o caderno com a primeira página bonita e as outras brancas, a fita de tecido que sobrou de um embrulho. guardo porque, secretamente, acredito que as coisas esperam por nós. não do jeito passivo; do jeito paciente.
Uma amiga veio me visitar e, sem pedir licença, abriu a gaveta. “me dá essa fita?”, perguntou. amarrou no cabelo, sorriu diferente. às vezes, o que nos falta já está ali, só não tinha encontrado a pessoa certa.
No jardim, há um banco de cimento, duro e pesado, sob um caramanchão meio caído coberto de um jasmim. O banco acolhe bichos, conversas soltas, tristezas, lágrimas… Certa tarde, sentei para ouvir a fonte de pedra que insiste em me ensinar a cair. a água, que nunca é a mesma, faz no ouvido o barulho do tempo. no pé da fonte arrumei uma montoeira de pedras, essas são objetos que o mundo faz sem nos consultar, em imaginar que aquele pedaço de mundo tem milhões e milhões de anos e que ficou quieto e adormecido na profundeza da terra até o capitalista arrancá-la do seu berço para fazê-la de calçada. Cada pedra, daquelas que coletamos em viagem é um mapa silencioso que ocupa menos espaço do que a saudade que ela evita.
Espelhos são objetos temperamentais. há dias em que estimulam a coragem; há outros em que conspiram com a insegurança. mudei de casa e trouxe um espelho que acompanhou quase todas as minhas transformações. ao pendurá-lo na nova parede, a imagem pareceu deslocada: outra luz, outra altura, outro fundo. levei semanas até reencontrar o ângulo em que eu me reconhecia. Estranhei. Percebi que o espelho não reflete apenas o rosto: reflete os lugares, as temporadas, os modos de habitar. Por isso, quando uma casa muda, o espelho precisa reaprender quem somos.

Os objetos não pedem muito. Pedem uso, alguma higiene, pequenos rituais. Pedem que a gente os repare antes de descartá-los, que entenda a diferença entre o que está gasto e o que está vivo. Pedem, sobretudo, que se aceite o fato de que também eles nos observam. Quando atravesso a sala, sinto às vezes que a mesa me reconhece e já se prepara para o peso; que a estante, de leve, se orgulha de sustentar mundos; que a lâmpada guarda em sua claridade um punhado de noites difíceis que a gente sobreviveu sem drama.
E pedem uma coisa mais: que a gente não os condene à indiferença. Porque a indiferença faz com as coisas o mesmo que faz com as pessoas: apaga.
Não deixaremos grandes monumentos. A maioria de nós vai herdar e deixar pequenas coisas: um abridor de garrafas, um porta-retratos com marcas de dedos, um guardanapo bordado de modo torto. quando penso no que vai sobrar de mim, imagino um punhado de objetos com histórias breves, mas carregadas de uso. e me consola saber que, mesmo que se percam, terão existido à altura do que puderam: servindo.
Ao fim e ao cabo, a memória guardada nos objetos não é a dos objetos — é a nossa. Somos nós que depositamos neles as camadas de tempo que não conseguimos carregar no corpo. No entanto, ao devolverem o depósito com juros, parecem autônomos, donos de uma vida própria, cúmplices da casa.