
Por: Antonio Henrique Couras;
Há imagens que nos ferem como humanidade. Uma delas é a dos bacha bazi, meninos do Afeganistão que, arrancados da infância, são vestidos de seda e purpurina para dançar diante de homens adultos. Pintam-se os olhos, adornam-se os tornozelos, ajeitam-se lenços brilhantes como se a beleza pudesse disfarçar o abuso. Chamam isso de tradição, chamam de entretenimento, alguns chegam a chamar de arte. Mas o nome verdadeiro é outro: violência.
Esses meninos, conhecidos como bacha bereesh — “meninos sem barba” —, são aliciados na pobreza, oferecidos como espetáculo em festas privadas, casamentos, encontros de chefes tribais ou homens ricos. A dança é apenas a primeira parte do ritual. Depois dela, longe dos olhos da plateia, eles são usados como objeto de prazer, explorados sexualmente por aqueles que se proclamam guardiões da moral.
Não se trata de um desvio isolado, mas de uma prática com raízes profundas. Relatos sobre o bacha bazi já aparecem em registros britânicos do século XIX e em histórias locais que remontam a séculos de dominação e guerras. Sempre associada ao poder masculino, essa prática floresceu nos salões dos senhores de guerra, entre comandantes, policiais e elites. Era — e ainda é — símbolo de status. Quem tinha um menino para dançar mostrava que tinha dinheiro, influência e força.
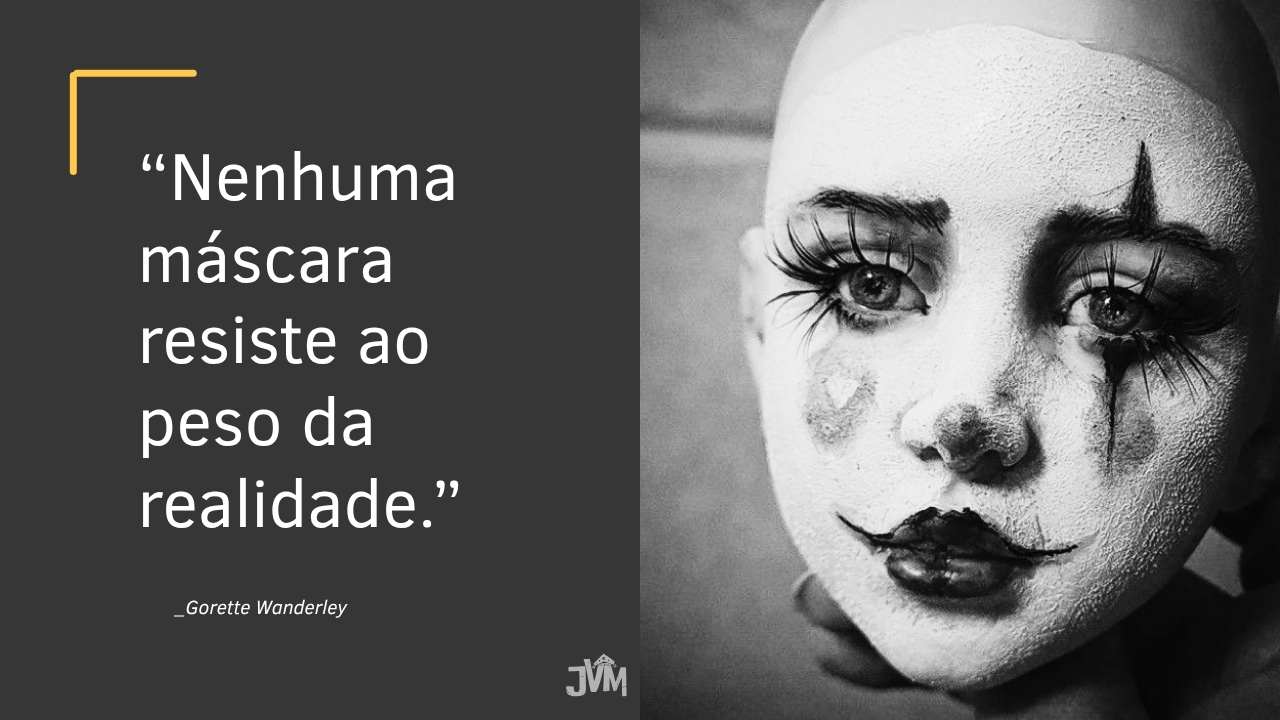
A contradição é gritante. Em público, a sociedade afegã se declara puritana. A mulher é considerada sagrada: não deve ser olhada, não deve ser tocada, não deve sequer circular sem a sombra da família. O discurso é repetido como medalha: “Nossas mulheres estão protegidas”. Protegidas, sim, mas na prisão. Proteger, nesse caso, significa trancar em casa, interditar a presença pública, silenciar desejos e vontades. A mulher não é vista como sujeito, mas como vitrine da honra da família.
E o que acontece quando uma cultura decide que a mulher é intocável? O desejo masculino não desaparece. O machismo não aceita limites. Se não pode tocar as mulheres, busca outra saída. Inventa-se um subterfúgio. Nasce aí a figura dos meninos que dançam: corpos moldáveis, sem barba, arrumados para parecer “quase mulheres”, mas sem o risco de macular a pureza feminina. O puritanismo se orgulha de não tocar em mulheres, e o machismo, com sua fome insaciável, encontra uma válvula de escape. É a matemática mais cruel: para manter a vitrine limpa, joga-se a sujeira para o porão.
O cinismo é duplo. Esses mesmos homens que exploram meninos vestidos de mulheres são os que mais vociferam contra a homossexualidade. O amor entre homens adultos é pecado, crime, motivo de linchamento. Mas usar um menino como brinquedo sexual não provoca o mesmo escândalo. Por quê? Porque, na lógica patriarcal, o menino não é reconhecido nem como homem nem como mulher. É um “não-ser”, uma zona cinzenta onde a violência se torna aceitável. A homofobia convive, assim, com o abuso. O que escandaliza não é a violência em si, mas o risco de se quebrar a fachada da virilidade. O que se proíbe é aquilo que ameaça o poder masculino; o que se permite é aquilo que o reafirma. Relações entre adultos podem ser horizontais, desafiar hierarquias. Relações com meninos reafirmam dominação.
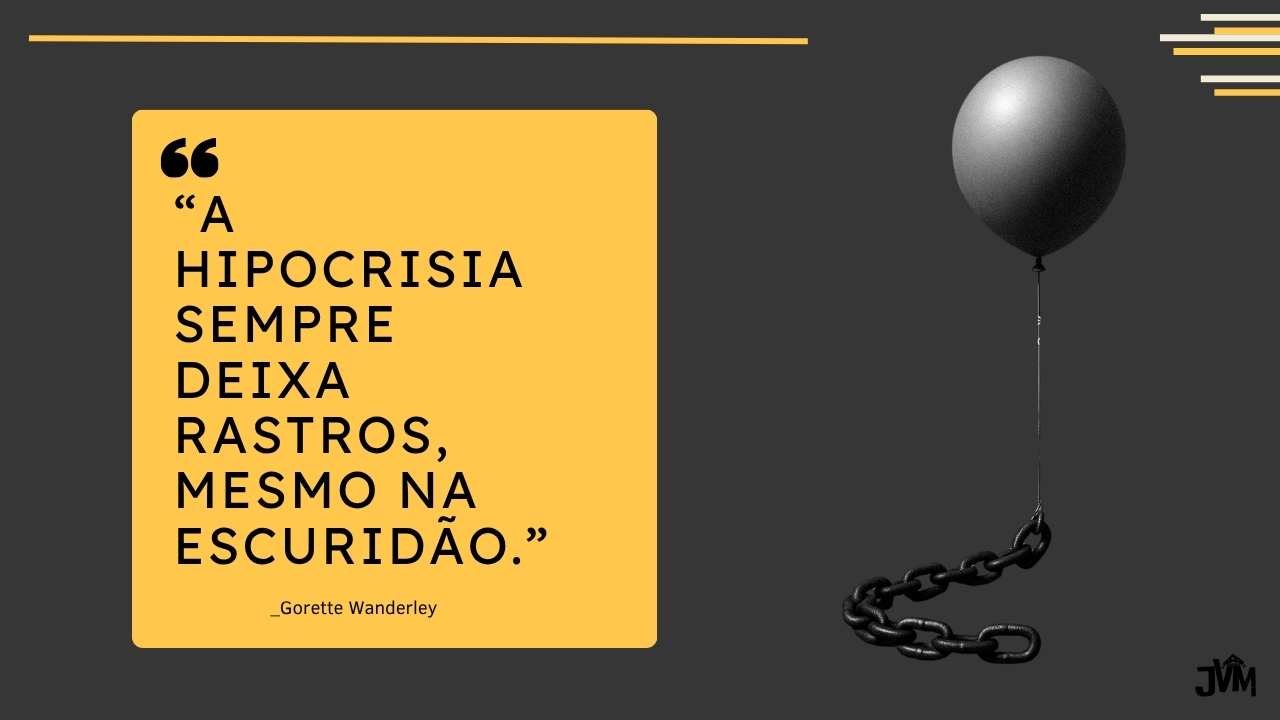
O orgulho público em “não tocar nas mulheres” é tratado como virtude. Mas que virtude é essa que se sustenta sobre a exploração de crianças? Que pureza é essa que exige sacrifícios para se manter? O puritanismo nunca eliminou o desejo, apenas o deslocou. Nunca protegeu a mulher, apenas a aprisionou. E, ao aprisioná-la, encontrou no corpo dos meninos um subterfúgio conveniente.
Todos sabem. As mulheres, privadas de liberdade, percebem. Os vizinhos comentam em voz baixa. As autoridades registram, mas não agem. O Talibã condena em público, mas relatos mostram que também praticam em privado. É uma hipocrisia generalizada. A palavra “tradição” aparece como capa. Mas tradição não é desculpa. Tradição pode ser poesia, música, culinária. Reduzir crianças a mercadoria não é tradição: é crime.
O espetáculo se repete como encenação de pureza. O salão se fecha, o menino gira, os sinos dos tornozelos tocam como se fossem música inocente. O público aplaude, ri, sente-se moralmente superior porque “não tocou em mulheres”. Ao final da noite, saem de lá orgulhosos, convencidos de que sua honra está intacta. É uma honra polida como medalha, mas arranhada de sangue no verso.
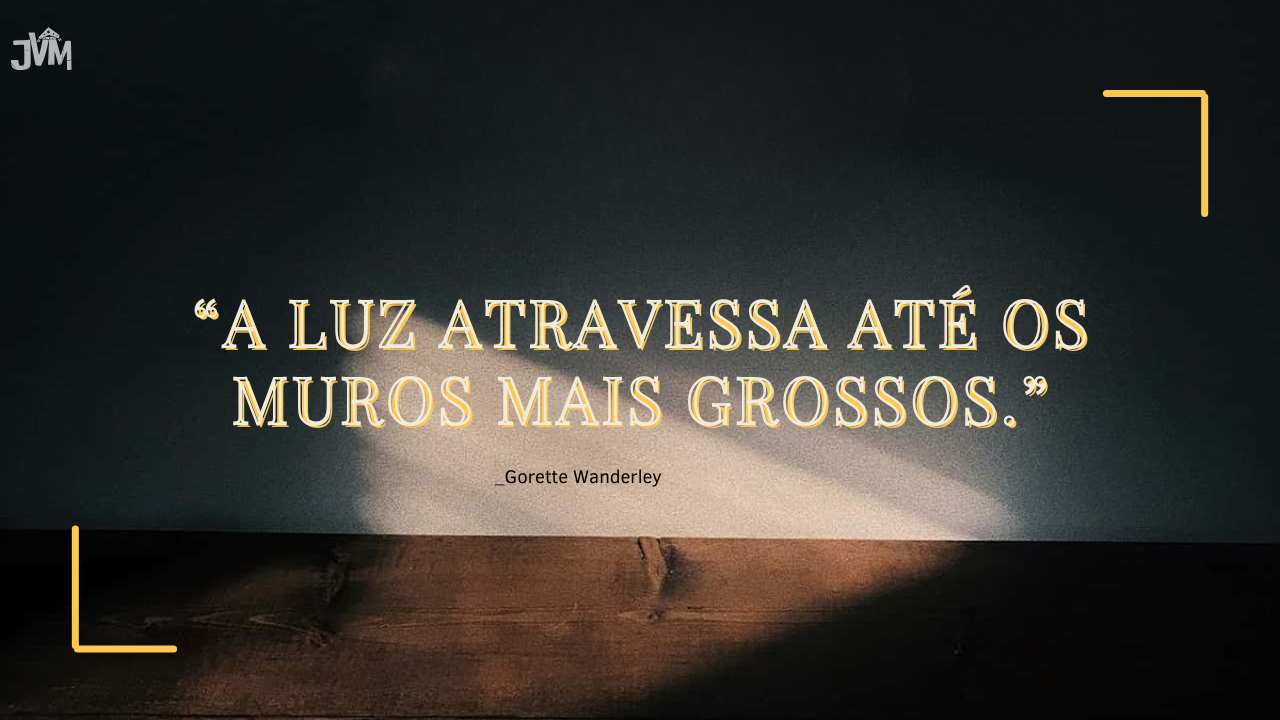
Não é exclusividade do Afeganistão. Sociedades puritanas em todo o mundo já inventaram atalhos semelhantes. A Inglaterra vitoriana que celebrava a pureza feminina enquanto bordéis se multiplicavam nas esquinas escuras. O Ocidente cristão que pregava moralidade enquanto explorava meninas pobres como criadas e amantes escondidas.
A lógica é a mesma: proteger a mulher significa controlá-la; e, quando o desejo encontra barreira, procura-se outro corpo mais vulnerável.
É preciso dizer com clareza: o bacha bazi não é folclore, não é herança cultural. É a prova viva de que o puritanismo e o machismo são cúmplices. O primeiro se orgulha de guardar a pureza; o segundo encontra maneiras de nunca renunciar ao domínio. E, no meio, quem paga o preço são os meninos.

O silêncio é a verdadeira tradição. O silêncio das mulheres que não podem falar. O silêncio das famílias que perdem filhos. O silêncio dos vizinhos que preferem não se envolver. O silêncio das autoridades que fecham os olhos. O silêncio cúmplice de uma sociedade que aprendeu a dançar ao som de sua própria hipocrisia.
Mas por vezes, mesmo na engrenagem mais sufocante, o corpo lembra que é corpo. Um tropeço durante a dança, uma respiração ofegante que escapa, um olhar que se encontra com outro olhar. Pequenos sinais de que ali há humanidade, mesmo quando o sistema insiste em reduzi-los a ornamento. É nesses detalhes que nasce a resistência. Pequena, mas real. O corpo insiste em existir além da máscara.
Os bacha bazi nos obrigam a olhar para um espelho desconfortável. Eles mostram que não basta se orgulhar de não tocar em mulheres, se ao mesmo tempo se violam meninos. Mostram que a moralidade proclamada em público não passa de fachada, sustentada por um subterrâneo de abusos. Mostram que o puritanismo, ao invés de conter a violência, a redistribui para o elo mais frágil da corrente.

E esse espelho não reflete apenas o Afeganistão. Reflete a lógica de todas as sociedades que já aprisionaram as mulheres em nome da pureza e, ao mesmo tempo, criaram atalhos para não abrir mão do poder masculino. Reflete o cinismo de culturas que se dizem homofóbicas, mas toleram o abuso de meninos porque este reafirma a dominação. Reflete o nosso próprio silêncio diante de tantas formas de exploração que preferimos não nomear.
Os meninos dançam. Os homens aplaudem. O mundo finge que não vê. Mas essa dança não deveria existir. Porque nenhuma pureza que se sustenta sobre a dor de uma criança é verdadeira. Porque nenhuma tradição que normaliza a violência merece esse nome. Porque não há honra possível quando ela se constrói no sacrifício dos mais vulneráveis.
Enquanto não dissermos isso em voz alta, os sinos dos tornozelos continuarão a tocar, abafados pelo riso grave dos homens. E cada nota será um lembrete doloroso de que ainda escolhemos a mentira da pureza em vez da dignidade da vida.






